Quantas vezes me questiono perante mim mesmo se ainda estou vivo. Numa visão transcendental acredito que a morte não existe na sua mais absoluta essência. Ninguém morre.
V
A morte parece-nos uma coisa horrível, um afastamento real com factos, parece-nos uma ida infernal, não a compreendo ainda e como todos não sei como lidar com ela, ditos e ditos seguindo rituais, tantas vezes me debruço nos silêncios que procuro e tento em mim não investigar mas tentar perceber se é assim de facto, vestimo-nos de escuro em respeito e sonhamos o ido na presença dos nossos instantes, isso incomoda e preocupa, mas, como perceber então a morte de facto? há quem diga que muito de tudo isto depende da forma como esse ido se despede de nós, qual o seu estado de espírito, que felicidade nutria nos instantes finais em que se partilharam, creio-a longínqua, imparcial nos sentimentos, uns tempos são, entre aspas menos lembrados e no entanto já foram. Quantas vezes me questiono perante mim mesmo se ainda estou vivo. Numa visão transcendental acredito que a morte não existe na sua mais absoluta essência. Ninguém morre.
Não sei se me percebo neste silêncio bafiento, neste horror oco de águas perdidas num horizonte por encontrar, as palavras são feras sem absolvição e nós cágados das montanhas perdidas nesta tela mal iluminada da televisão velha e cansada. Nem um agudo som do estômago que deslize frenético esta sala da fortaleza encontrada numa história por contar, uma história como tantas que nos contam e deixam o silêncio do entendimento que se dilui no escorreito templo da ignorância. A minha garganta toda ela é sangue vomitado pelas insuportáveis insónias de noites e tempos e ventos, um sentimento de erro colado à pele seca nesta chuva cansada e eu nela como um terramoto por dentro, um marasmo suculento a dizimar-me o horizonte e nada verei a seguir, serão sacadas da minha alma todas as vontades, as inexistentes partirão primeiro exactamente por não existirem, as outras permanecerão jamais neste corpo vazio e bafiento e entregue por si mesmo ao tempo que o consumirá.
Não quero a alma dos que me incutem doutrinas, quero a minha própria raiva, esvaída ou complexa, repleta ou pintada psicodelicamente por vasos inertes a empurrarem-me contra os meus próprios desígnios. Não sei se me percebo, a sério, não sei. Dos ares o helicóptero atolado, a enfermaria de campanha atolada, as mãos vazias por onde começar,
– ai doutor!
sons de dor espalhadas e sem mãos a medir, o enfermeiro corre para lá e para cá, a enfermaria do tamanho de um boteco está lotada, onde recolher outros
– coloca-os espalhados pelo chão!
sem reforços morrerão tantos, olho sem solução esperando a divindade, lá fora o vento das hélices um reboliço, pó e folhas, correria, macas, soldados socorristas de um lado para o outro
– as agulhas!
esterilizo tesouras, agulhas, corto linhas, suturar soldados e cosê-los a sangue frio, a minha cabeça estiolada, sem voz eu, calado, a máscara pendurada junto ao soro,
– ai Deolinda!
não tu, eu, sei de ti sinceramente, sei, a cidade ainda onde o brilho que nevralgia de silêncios e melancolias a nostalgia aqui, nesta mata enfadonha onde me meteram, esta raiva desconhecida, vontade de desertar, acampar numa sanzala qualquer e comer com gente igual e desigual que diferença, somos estirpe igual amor, filhos nos mesmos sonhos, carne na mesma forma feita, que vontade de desertar, abandonar este estribilho furibundo de matanças sem nexos, fugir do desconhecido e descobrir a nossa fraqueza, abraça-me de onde estiveres, sim, esse abraço, preciso dos teus sorrisos
– a menina?
que há tempos não recebo, a tua voz por cartas esquecidas, há muito nada mandas.
Aqui pianos, o solfejo afinado e a casa ainda nesse bairro lindo, aqui os sonetos lendo camões, rimas de dor esta caserna, os soldados parecem vadios, perdidos sei, ouço sinfonias angustiantes procuro melancolias, desejo o meu lar, a minha cama, e tu,
– volta amor!
nem sei se ainda sozinha, a nossa menina, que é feito dela?, à janela pensando quem serei, um diria lhe disseras o teu pai tropa, medico num acampamento perdido, salazar moribundo Angola é nossa, matar quem importuna vamos!, e fomos nesta masmorra desertar quem?, muitos fugiram e o Alfredo recambiado por Franco, eu recambiado por salazar, tu nessa sala onde espíritos te tragam a mim e eu sozinho, não só, os soldados aqui aos gritos há sempre mais, tripas de fora e cansaço rasgado, as macas repletas e as almas nem com eles, um choro baixinho o cabo, a matança do porco na aldeia dizia um soldado
– quando voltar à metrópole caso-me!
o calor doutor, isto aquece demais!, corremos e atiramo-nos ao chão uma granada explode há mortes?, coisa nenhuma, era o delírio naquela manhã onde febres, estendidos na caserna ou na tenda de campanha, um rumor permanente há mais feridos e nem feridos em lado nenhum, qualquer coisa como risos e risos de lado nenhum, o jeep na mata, camuflados nós seguimos, há que cumprir, ordens de lisboa diz o coronel e nós soldados onde que coronel, o coronel é soldado na mata como nós, e nem coronel na mata, o escritório em luanda, a base estratégica comandada e nós comandados cumprimos não receio, sigo o caminho onde nunca se morre.
Dizem-me turras, dizem-me que matam, matam nada, como todos aqui esta trincheira cheia, areias e pós onde ventos, áfrica é assim,
– baixe-se capitão!
um obús, o seu trajecto incerto acopla-se longe, vi-o rebentar-se contra a vontade de quem queria destruir-nos, pena de nós, coitados, pena de todos nós aqui perdidos, turras, dizem-me de lisboa qual turras qual quê!, metralhadoras disparam em todas as direcções nós também, o soldado transmontano e a sua matança do porco na aldeia na cabeça, o soldado dois sem saber da família onde estarão, aqui guerra coisa nenhuma, viemos incomodar quem se pretende assumir. Eu por onde? Há… quando luanda?, há que tempos a aldeia, rapei cedo a cabeça doutor, queria viajar sim, queria ser emigrante, ir até frança, o meu tio coitado há anos lá a morar em contentores e sem guerra, trabalha na construção, é assim, na aldeia todos emigram, a aldeia é vazia apenas pelo verão os emigrantes, o tio Francisco tem um mercedes nem sei dele, alugado para a viagem à terra a família lá,
– Francisco!
e a minha na horta cuida das couves, eu cuido de nada, vim para morrer?
Sobre as águas da vida, sim, neste calabouço de nada as aldeias dos indígenas queimadas foi tropa, dizem, roubamos galinhas e que fome, tiros contra o vazio e nada, quem matei?, nunca vi se matei alguém, um turra camuflado, negro, deitado ou não corri para a vala e só folhas pó pânico e tiros de longe mais medo,
– raios!
uma emboscada, creio, todos partilhamos juntos este medo, medo de ninguém nada via, ouvia, as árvores oscilavam tal o vento, penso que no Uíge nós, caminhamos tanto toda a noite, ora a pé ora de jeep, o escuro tirava a orientação sem bússola, rastejamos até ao acampamento súplicos, vazios de essência a vida é pobre amigo, camarada, em ordem?, para todos os lados orientação, escuro só, bruma eu.
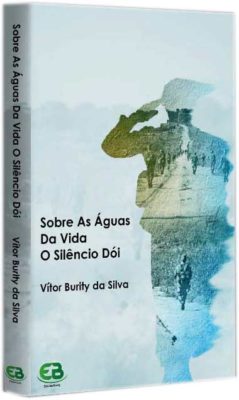 Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos o primeiro capítulo do livro Sobre As Águas Da Vida O Silêncio Dói
Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos o primeiro capítulo do livro Sobre As Águas Da Vida O Silêncio Dói

Receba a nossa newsletter
Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a Newsletter do Jornal Tornado. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.




