Escuto do longe o voo rendido das andorinhas. O telhado húmido numa silhueta lúgubre, não os meus passos, em mim ninguém manda a não ser destruir-me
11
Ao que me pedes e largas, todas as manhãs, todos os dias, ao que por que mim dizes sentir e calas, quando te pergunto quem sou, a resposta que evitas quando te peço que me beijes, quando finges não entender que existo, ou que sabes ser verdade estar aqui, entre mim e ti, o soluço axadrezado dos nossos sonhos engendrados por momentos que em tempos, verdadeiros e mais calorosos, nos protegeram instantes e breves segundos, se dissipam sei, mas nunca se perderão garanto, sou mais que aquele inventado cruzar de intenções, ou de palavras atiradas ao corpo um do outro, parecendo um acaso da circunstancia, porque nos queríamos apenas ali e nunca para sempre, fugindo depois da verdade porque mais do que isso, nada seria interessante, nada valeria constituir e nada mesmo valeria construir, por isso, te digo simplesmente porque nada mais mesmo sei.
Se pensar chegar, pensarei, ou se menos até for suficiente, fá-lo, mas não me peças mais que vontades que não conseguirei nunca, não porque não queira, não porque não tenha vontade, mas sim porque como entendes não sou capaz, sou limitado até aí, não conseguirei chegar, nem que lances ventos a empurrem-me até ti, onde estás e nada dizes, a não ser o que apelas quando o teu coração sente solidão e sonha com outro, que seja o meu, reclamas devagar e gritas contra as paredes o vazio do teu tempo que a vida resolvida assim, por ti, tenha culminado num mar maior onde se torne impossível os nosso dedos tocarem-se.
– Não sei, sei apenas que não consigo e assim não sigo, onde moras com a tua voz e não comigo, os beijos serão teus e não meus.
Fim de tarde. Tento nela sorver resquícios frescos a abafarem-me, sei lá quê,
– Não quero os teus olhos!
Escuto do longe o voo rendido das andorinhas. O telhado húmido numa silhueta lúgubre, não os meus passos, em mim ninguém manda a não ser destruir-me, pensava, esquelético na caverna o meu sorriso sobre a cama, às voltas o ventilador,
– A tarde aqueceu de mais!
Destruir que ideia, este tédio faz de contas, a ombreira devastante num gole fresco quanto faz, soubesses desta raiva a navegar-me em silêncio, soubesses desta ânsia a morrer devagar, tivesses tu uma ferida assim a roer nas calmas o teu caminho, como em tempos sozinho no meu cubículo a beber restos de outras raivas que nem sequer sei como dizer-te, não entendes nada das almas, nada das vidas, o teu umbigo arderá à lareira tal a tua vontade de um calor avulso:
– O meu fim será hoje!
Ao sabor dos ventos irem, fim de tarde na madeira rude do salão ao ar livre, digo eu, que sei eu destas coisas ao rebolar por dentro tantas incertezas nascidas do nada, é do nada que nascem as coisas que tantas vezes nos nutrem mesmo nada bebendo neste fim de tarde encostado a vizinho nenhum deste edifício nervoso e negrume, que me faz, mais ainda,
– Não quero os teus olhos, já disse!
Que me cale, ou que erro mais nestes sons vadios do parque nas suas nefastas caminhadas pela ira comum das ruas, sobre o verde capim do chão, refastelado no coração das vidas, este verde plástico dos bancos frios, ou sinistros, diria, levam aos pedaços a vida num instante.
Se o fim de tarde frio, ilusão?
Ao fundo, sobre um soalho de madeira à distância de um circo, a televisão ruge monstruosa, os anos difíceis, talvez os sinta.
Como uma nuvem carregada nos meandros do tempo. A eclodir-se nos silêncios do caminho, na devastação do percurso por entre restos de escuro que dormem nas mãos, como esta nuvem na caminhada derramada, como que a derreter-se em pingos de nevralgia, uma suave dor na cabeça do tempo o ritmo mais certo, se houver uma viagem entre ela e a terra a acudi-la, sobre as areias deste pântano verde de jacarés fantasiados, ela mesma, carregada de tempo que se derrete entretanto, como se ela por ventura fosse naquele instante, uma lágrima divina a alojar-se nos meus braços que a apertariam se chegassem para a ter, por entre uns pingos de água fria, que o sono mal dormido me faz sentir.
Vi, um dia destes, um rio preto, bem mais longe que o infinito, nas margens um capim peludo a enfeitar-se de cores que secavam lentamente, corria, na longitude silenciosa do meu imaginado isolamento, naquela pura e doce distância de rostos que me castravam qualquer vontade de rir, caminhava sobre os seus espigados bicos como se eles fossem mamilos adolescentes deste mais longe que o infinito, o gotejar sombrio, o lacrimejar árduo, o rio, sim, preto, tinha nas suas águas o doce percurso nos seus passos que seriam, imaginava eu, os meus passos, na superfície cinzenta o reflexo sonhado e eu de olhos fechados, mirava-o, indo como ele, um destino que se ansiava abraçado, pela íngreme sequência da sua vontade, descendendo labirintos e abismos que a noite usurparia numa escuridão que disfarça, numa imensidão de onde só os ouvidos viam, vendo-os como se sentir fosse tão possível como ver sem olhos, guardá-los depois nos resquícios desalojados do meu quarto agrafado à memória, numa cidade de carvão que conservo sempre, ainda que nada ali seja verdade, tão verdade como a vontade de crescer nos sótãos ao ar livre do meu mais que profundo e sincero desejo de nascer todos os dias, que haja ou não cama ou marquesa, no quintal ou na diáspora, mas com a sensação sempre, ainda que isso só, como que a retocá-las assiduamente com estas memórias de carvão que a minha mãe me fez ser um dia, após ter nascido, talvez pelos fundos do mundo, quem sabe a verdade do meu percurso, amargo e doce, nem tanto pelos espelhos da paisagem, que se reflectem claros na cinza aguada daquele lugar, como se um escuro vertiginoso nos alpendres inventados do anoitecer me desvendasse o caminho a seguir.
E quem queima as memórias queima as razões. As memórias não são rios que se espalham por uma fila indiana nas estradas dos seus leitos, são filhos das nuvens acima da cabeça, grávidas de escuridão para parirem mais tarde este leito sobre o fundo deste rio que se enche até à superfície que cintila metalizados refugos com memória. Fronteiras são depois as margens. Há capim e árvores. Mesmo que a vida se enclausure infinitamente como nas memórias de carvão, os olhos fechados apenas para só se conseguir ouvir, ouvindo, com os olhos que abarcam os silêncios guardados na alma, e os pés, juntos, à vez, um à frente outro atrás, numa troca frutífera para que se consiga então avançar.
As sombras deste grito abafam até o caminho, um eco retorcido como arames soltos num descampado raro, para que temam então os crepúsculos silenciosos de quantas vezes fui espólio da minha própria iniquidade, então jazigos, então sepulcros, numa esfera de arrepios arregaçados, na pele de galinha assando-se na margem mais distante de tudo quanto seja a minha própria verdade de jardins silenciosos.
Nunca deixarei, entristecido que esteja, de me vestir azougadamente, num paraíso distante do meu interior ali despojado, numa verdade de inexistências, e dar forma ao silêncio que precisarei para comigo conversar.
O cigarro despeja-se sobre um cinzeiro esquecido na ombreira escorrida e obsoleta. Um fumo de capim eleva-se pelas paredes que me cercam tantos minutos da minha vida. Ao longe o ruído do rádio com informações sobre temporais lá fora:
“Esta madrugada, numa enxurrada, fortes chuvadas causaram cerca de cem mortes”.
Nunca deixarei, entristecido que esteja, que me levem as notícias, dos tremores vândalos ou das guilhotinas assassinas, os assassinatos imensos que cobrem de luas vermelhas o torpor longo do deserto.
O orvalho descosido descai lento sobre os taipais acastanhados, vendo-o, pelas frinchas iluminadas tal canção, os riscos metálicos da rua sob um céu ora claro ora escuro, como se a sede enervada aparecesse aos trambolhões vinda sei lá de onde, com melodias desgovernadas, sons de crispação, saudades enferrujadas, quase tudo ao mesmo tempo, ali, ouvindo-me num quarteto de sinusóides fingidas.
E passara, entretanto, o tempo e como o vento, sem ser sequer visto, de novo na rádio o que afinal, já tinha ouvido sei lá quanto tempo antes:
“Esta madrugada, numa enxurrada, fortes chuvadas tiraram a vida a cerca de cem pessoas”.
Nunca deixarei, entristecido que esteja, que me levem ou não as notícias. As coisas da vida num túmulo que seja, da janela o que veja, se vento ou sol, do céu um azul sem nuvens ou que alegria desbarate o seco silencioso de passos pela escadaria a cima, ou que dentro da casa chovam mil degelos ou dores ambulantes, numa resma que seja, com ou sem quintais, com ou sem mais calças para as vestir depois do corpo lavado e enxugado pelo macio azulado da toalha ali pendurada.
– Aqui?
– Naturalmente…
– Verdade, quem discute isso?
– Quem sabe?
– A distância, sabes? A verdade, entendes?
– Vou sabendo…
– Que esperas?
– Nada. Escuto, quem vier, diga, às vezes ser um bom… interlocutor dos momentos, renasçamos…
– Nem parece Lúcia, nem recordo Lúcia, quanto tempo…
– Conversamos, à sombra da vontade… sob o silêncio deste palpitante instante… invertendo o tempo… parece, sinceramente, termos nós capacidade para furar da vida certas iras e aqui, náufragos da razão… falar da noite… da vontade… que mais?
– Constrangidos percursos… estes os caminhos… viagens irreais onde se está dum e doutro lado, quase no mesmo instante… nem da voz se perde o que quer que seja… é como se estar na paragem, esperando o arranque, ou o regresso, a sequência deste ritmo bifurcado, onde sempre estou, que esteja…
– Ah… sim… mas não entendi, Lúcia…
– Deixa estar, não te incomodes…
– Claro, não vou mesmo incomodar-me, pretendo que fiques descansado…
– Já estou… ah… coisas atiradas ao vago, deixa-te disso…
– De que forma realmente te perturbo…
– É o que sentes?
– Talvez… sabes, que leve sensação, olhando-te, translúcido, a impressão de que na realidade isto é uma passagem, sabes? O cumprimento da existência, recalcando a cada passo, o fruto vida, há sempre marcas que ficam, mesmo quando está já terminado o percurso de cada um de nós…
– Na verdade consegues…
– Que consigo?
– De que falas?
– Creio que o que mais conseguimos é interrogarmo-nos sucessivamente…
– É prelúdio das certezas…
– Ou o contrário?
– Por este andar, ainda concluo que nada…
– Como estás absorta e indiferente Lúcia…
– Estou aqui… olhando quanta maravilha, aqui, desventrando da tua alma os resquícios de tudo que de ti perco, e busco, ou quero, como se na realidade, tudo fosse de facto o que me fazes sentir, esse telúrico e frio silêncio, embora tanto fales, tanto dizes, enches a maresia do meu destino com risos e lágrimas, ainda assim, busco de ti mais que a presença, distância, restos de sonhos e maravilhas alicerçadas em tudo que de facto terá sido construído, continuação da viagem, embebida de tudo que sejas sempre, mar de todas as viagens, recado calado, como quando me pestanejas, pareces sorrir, pareces querer permanecer assim, numa distância metafísica e real, a tua carne entranhada nestas esferas de pedra que piso diariamente, vendo quando não estás, mesmo que seja quando partes, somos mar, acredita…
– Fria a tua mão, silêncio sim, mas tu, como este rio escondido por entre as pálpebras, os soluços vagos quando gesticulas, as harpas coladas ao caminho e nós, que nem seguimos, sei, ou paramos nunca, sei, aceleramos sem propósito e com marcas ofuscando o relento que nos aflora a essência, num relento coberto e quatro paredes sobre nós, aninha-nos à secreta dispersão… vem Lúcia!
– Rejeito com prazer o teu pedido… não vou.
– Sobrevoar a noite, este relento inventado…
– A pele vagabunda…
– Elástica, rasgando o fundo dos sonhos…
– Do rosto.
– De ti.
– Somos nós.
– Ah… esse resto pálido, essa crosta aguçando tudo o que for parede nesta cidade que não existe…
– E nós, existimos… ai como existimos…
– Às vezes, às vezes é mesmo assim, nem sempre isso acontece, é como quando pensamos lá estar, e o nosso pensamento nos invade, deixa lá isso…
O rebordo nevrálgico da paciência. Como um coma a ranger por todos os cantos de onde se possa um dia descomprometidamente descansar.
Lá por casa, os cantos eram sombras e nós nada sabíamos, digo eu, nesta ceda meio nada, meio invenção de quem me assusta com regozijos da minha vida, ou por nada seres ou sei lá, não se rege por isto o que é na verdade a solução primária do teu sustento, não te delicies com prevaricações dilaceradas nas resmas ou quimeras, ou que digas, nos papéis avulsos de tasca, onde beberas noites passadas sem um sono ou sonho, apenas o resquício conspurcado num embrulho de lágrimas, afinal, na manhã seguinte, após o despertar da verdade, quem sabe, a sincera.
Vozes outorgantes me devorassem ou por displicências me dilacerassem os desejos.
Plenas de matas as minhas visões jungidas, como que a perderem-se de desígnios estabelecidos e numa convergência de verdades se alicerçarem de esquimós faz-de-conta, nesta selva real onde se morre sinceramente, um matagal de sonhos se assim tiver de ser, a encherem-me de convicções que não as minhas, dizem-me de ditaduras que não as minhas, neste sufrágio de nadas, de votos mentirosos, e ganhar mesmo assim, o voto sacro da minha nenhuma vida e findar-me, quem sabe, nas mãos dúbias do vento.
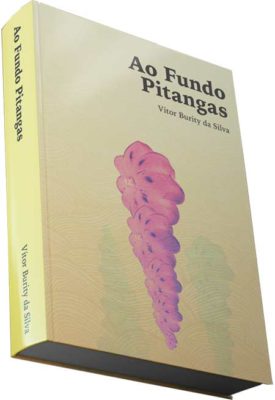 Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas
Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas




