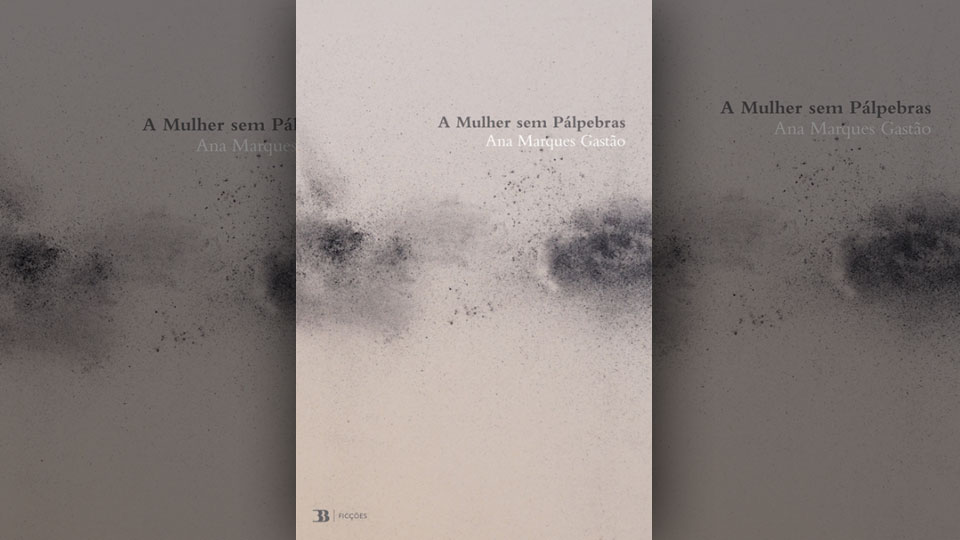ed. Letras Errantes, 2021
Como sempre, um livro muito aguardado, a aumentar a já obra notável de uma escritora, poeta, de obra notável em vários domínios.
Pego nos seus livros com pinças, pois a imaginação, a par da subtileza que ora revela ora discretamente se apoia em enorme cultura, conhecedora da poesia e das artes, do melhor que se pratica e dá a revelar no nosso tempo, assim me exige. Nadamos em águas profundas, ela e eu, e esta afinidade também me torna mais exigente. Ana lê e escreve por dentro, e neste conjunto agora apresentado a novidade, o gosto de nos surpreender é uma constante, bem conseguida.
Reflicto no que descubro na escrita, de associação livre, onírica por vezes ao gosto de um surrealismo que ela retrabalha, renova, recupera – exemplo para quem julga que tudo foi ultrapassado, ora o que é bom nunca é ultrapassado, mas sim fonte de inspiração.
São várias as personagens que em dez actos vão surgindo ao lado de uma Libbie, a mulher sem pálpebras que logo por esse facto, inusitado, nos convoca a um mistério e a um novo entendimento do que pode ser a relação com um eu forçado a tudo ver, e entender, se possível, tanto em si como nos outros, no mundo à sua volta, em toda a sua variedade e complexidade.
Um cego vê porque pressente, apura novos sentidos. Mas quem não é cego e tudo é forçado a ver, como reage? sofrendo, ou inquirindo, inquirindo sempre até aos momentos de maior exaustão e loucura?
Libbie escolheu – sem saber para onde- seguir o Espírito. Mas que poderá ela descobrir, ainda que de busca incessante, ou mesmo delirante, nessa força feita de energia invisível? Será quem sabe nos vários desdobramentos de outras personagens com que se cruza? Cada qual mais surpreendente, nesses vários inesperados cruzamentos? Saber não será preciso, mas sentir sim: a pulsação, o ritmo, quase poético, nas trocas, nos diálogos, ou nas exclamações que nos deixam em suspenso.
Esta não é uma prosa de explicação e clarificação, é uma prosa de libertação sem peias, corre o sonho, corre a associação livre de ideias e de situações, que nos empurram na leitura para ver, pelos seus olhos despidos o que ela vê e só mesmo ela pode contar.
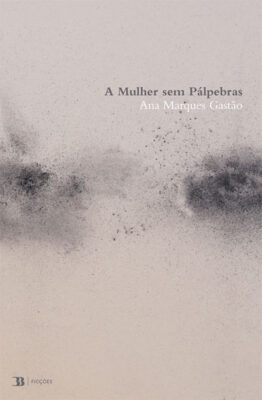 Num dos capítulos iremos encontrar a meditação de um Rilke lido e relido, e que nos confronta com a absoluta necessidade de falar ou calar para sempre: prosa para o cesto de papéis. Ou então de assumir uma entrega absoluta e que sabemos mortal.
Num dos capítulos iremos encontrar a meditação de um Rilke lido e relido, e que nos confronta com a absoluta necessidade de falar ou calar para sempre: prosa para o cesto de papéis. Ou então de assumir uma entrega absoluta e que sabemos mortal.
Os Anjos matam, no fogo do seu abraço, cegam-nos, disso fala Libbie, e retoma sua lição “amar é deixar ir”.
Mas é possível amar quando os olhos que tudo sabem ver e sentir, assistem ao contrário, num mundo tão imperfeito? Ana- Libbie deixa-nos em suspenso. Há que ler, para ver mais.
Encontramos, noutros capítulos, a continuação de uma “imaginação activa” como Jung gostava de chamar, em contraponto à ideia da folle du logis : não é loucura que tudo confunde em delírio, mas é imaginário que associa e recupera, seja um Rilke, uma Clarisse Lispector ou outro autor de dimensão universal, Virgínia Woolf, para só escolher alguns que passam, com as suas marcas, pelas associações que vamos descobrindo. Ana é uma grande poeta, uma grande escritora, de grande cultura, filosófica e literária. Há ideia e pensamento elaborado em tudo o que nos dá. Assim passamos de uma situação, de metáfora surrealista a um modo tibetano de vivência, como no 5 Acto:
” A mulher tibetana diz a Libbie para ouvir com a voz da alma: ‘sente o meu olhar fixo, olhar de mãe em banquete de vida (p.57). Pensa de ver e não de pensar, pensa de sentir. Ou melhor, clareia as ideias, as do baú (Fernando Pessoa? ). Sente a dualidade, escolhe. Senta-te na rosa.” (Dante? Rilke de novo?) E muito adiante, diz ainda a mulher do Tibete: “Põe as letras a dançar”.
Assim dançam arquétipos, símbolos, imagens de um puro inconsciente colectivo que a autora personaliza em Libbie, que ora exprime o que vê, ora associa formas inesperadas, figurações que vão de um crocodilo-mãe, como nas sagas dos deuses egípcios a um cosmos de cristais luminosos.
Este imaginário, literário e simbólico, carregado de marcas culturais de suporte filosófico nunca negado, é o que torna este livro uma leitura tão surpreendente e desafiante, no conjunto das obras da autora.
II
Uma leitura mais aprofundada mostrará que para além das referências literárias há um bestiário simbólico, bíblico e alquímico até, por vezes, que amplia um sentido da narrativa que de outro modo passaria despercebido. Irei de capítulo em capítulo, atravessando o discurso ora apaixonado ora reflexivo, ondulando como as ondas do mar que afogam corações, da nossa Libbie-a heroína que de olhos impossíveis nos dá a ver o que pensa ( o mundo Espiritual) e o que sente, o corpo que se entrega ou se recusa. Logo de início, temos uma descida aos infernos, o reino de Hécate, que com uma flecha lhe atingiu o coração. Não é despicienda esta “descida”, pois marca a presença da treva, a assunção de uma fase de nigredo, o negro da alma que pode vir a ser caminho de mutação.
E na verdade, de acto em acto, assistiremos a uma espécie de ” drama em gente”, de multiplicação de vozes, de situações, de diálogos interrompidos a que só Libbie vai devolvendo sentido, por via de uma imaginação “que não lhe falta”. Não nomeia o temível Cerbero, mas quem sabe, sabe que ele está ali, no reino oculto. Há um Anjo “zangado” evocado adiante, um gigante-fera, um homem-peixe, um monstro marinho. Entrámos no sub-mundo do inconsciente, onde se forma o nosso imaginário, nos acordam arquétipos e símbolos, entre o espiritual e o material mais espesso. Lembro os Cantos de Maldoror, de Comte Lautréamont. Não temos o tubarão-fêmea, que ele desposa, mas temos “um polvo agarrado às rochas, esbracejando como um chicote de medo”. O medo é uma reacção contra a qual se lutará. A presença da água, em muitos momentos, evoca o primordial mundo dos elementos. Teremos fogo, o da paixão, mas sobretudo água, a da dissolução. Assim nos surge a serpente “do outro lado”, evocando, com a água, o elemento terra, a materialidade que precisará, de olhos bem abertos, de ser finalmente sublimada. Ana-Libbie usará da sua voz, da multiplicidade dos nomes e palavras, para tal exorcismo. Será fiel à “metáfora”, que prefere, e por ela entra no domínio do surreal e da prática de um surrealismo inovador e próprio, que só ela domina. Ainda aqui surge o gato: enigmático, hierático, figuração do seu desejo de um Todo primordial.
Passemos ao II Acto
“Saber ser escuro, antes da luz…”
Aqui surge um homem sem umbigo: o centro do mundo, ou o despojamento de todo o egoísmo? E de novo o negro, “como um peixe escatológico: sem violência (não será Tiamat), “sem domínio, sabendo escolher”. E uma referência em língua que Ana conhece e aprecia: “Nachtsseite”: o lado da noite. Ainda por enquanto, a nigredo.
Adiante, a metáfora de um cão, “com pêlo que se solta e invade tudo, até que o nariz rebente nas montanhas sedosas dos invasores. Nada muda”. Partiu para outras paragens, o discurso. Importante é fixar que nada muda. E em itálico, “é preciso parar e voltar para o interior”. Mas para isso subir a montanha, tão emblemática ou mais do que a água do mar. Exemplos que nos acorrem, Thomas Mann, Robert Musil. A divagação literária vai conduzir-nos a outras evocações: Celan, com o mínimo é o mais difícil, resposta a um verso em que o poeta diz, menos é mais. E não esquece o grande Hoelderlin, o que busca o sentido que se perdeu, e define o destino da vida humana neste mundo.
Visita-se o antigo Egipto e dele se evocam os cães, deuses como Thot, o sábio dos alquimistas. E adiante outras imagens, borboletas nocturnas, asas da sublimação, como as dos Anjos que nada dizem.
Chegamos ao III Acto, com Rilke e a impermanência de tudo… com a impermanência, regressa o elemento água: ” Já conheço de cor o som da água (diz Libbie) a que entra em túneis pelas artérias e se funde com o sangue numa existência murada”. Os muros caem pela evocação de outros, o outro que toca em nós, alimenta o nosso imaginário, que tem de ser ampliado para melhor existir. Surge Clarice Lispector, no discurso de Libbie, A paixão segundo G.H., e a experiência das baratas, fio da meada de uma experiência de quase alucinação: “afinal as baratas têm óculos”, diz. E adiante, de novo o negro de que não se saiu ainda: ” o ruído do escuro por onde avança o cavalo negro como um corvo”. A imagem do corvo é significativa, surge em muitos tratados de alquimia, em Basile Valentin, por exemplo, e é a marca de um negro que tem de ser transformado, transmutado, até chegar a um branco perfeito. Entretanto, neste mesmo Acto, surge de novo a serpente: ouroboros? a que morde a própria cauda, simbolizando a roda do universo? Ou a de Goethe, serpente mágica, dadora de vida e erguida em ponte de união das duas margens de um rio que será de perfeita união? Ana saberá dizer. Aqui torna-se divina. Pelo contrário, a imagem do camaleão não tem nada de divino, tudo de camuflagem e traição, espécie de regresso à dificuldade de entender e aceitar o outro, de preferir o silêncio ou a mentira. A mentira, o disfarce, alimentam o desejo, a sua efemeridade.
A autora deixa-se levar pelo prazer dos antigos filósofos que foram os primeiros a descobrir e locubrar sobre o fenómeno da consciência, que ainda hoje em vários campos nos intriga, e se vai estudando, como faz Ana, nestes passos da sua obra. Assim surge, na experiência nunca esquecida da água, ” o cavalo-marinho de Homero ” fonte primordial de mitos que nos alimentam ainda. Mas adiante, à medida que os Actos se vão seguindo, veremos como o despojar das palavras acompanha o desfazer do corpo, os olhos, as mãos, o apelo da música, a articulação dos sons que rompem as cordas do violino, e um discurso que recorre a associações livres, a vozes outras que interferem na relação mais seguida e sempre interrompida com Matias, o interlocutor preferido de Libbie.
São 10 os Actos do livro, como nos Lusíadas de Camões. O 10 tem uma carga especial, pois será na Kabbalah o Um intensificado. De Acto em Acto vão sempre surgindo marcas de figuração animal, que posso alinhar para ir abreviando este post: o polvo e a Medusa, p.49, insectos, p.50, borboletas, crocodilos, p. 57, cães, p.61, besouros, chocos. p. 65, roedores, esquilos, peixes, borboletas, p. 66, um ovo de gansa, p.68, lobos, rãs, p.71, cães, p.72, caracol, p.84, melro, p.85, sereias, p.92, uma pantera, p.104, abelhas, p.112, – um conjunto que é intercalado numa narrativa que se constrói pelo meio de um pensar filosófico, de um imaginário literário e artístico (percorrendo também pintura e música, de contemplação e vivência) que teremos dificuldade em classificar. Não terei aqui tempo de referir toda a simbólica alquímica contida nestas imagens: o cão, fiel companheiro do adepto, na Atalanta Fugiens, ou as abelhas, figuração dos adeptos, bebendo o mel da rosa (a sabedoria) no tratado de Basílio Valentino: dat rosa mel apibus. Rosa que é por certo a de Dante, ou quem sabe a de Rilke, de quem já se falou.
A autora não pretende que a classifiquem, mas sim que a entendam numa busca que é de matéria e espírito, de corpo (dilacerando-se ao longo da narrativa) e alma que se vai libertando, sublimada, num mosaico em que muito do dito e do não dito se acumulam, fazendo lembrar uma pintura de Bosch, o genial precursor de todos os surrealistas que Ana conhece bem. Uma escrita que alguns dirão a-lógica mas que se assume como tal. A mulher que tudo vê amplia um espaço que radica também no invisível, e altera para sempre a sua relação consigo, com o outro, com o mundo em geral. Algo que se consegue tendo absorvido muito, tudo, do Todo universal de que fazemos parte.