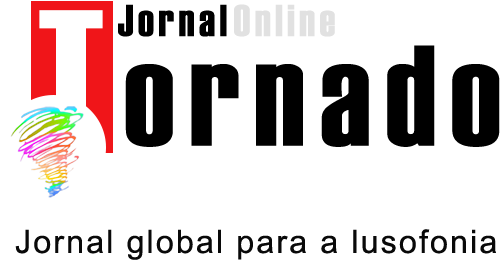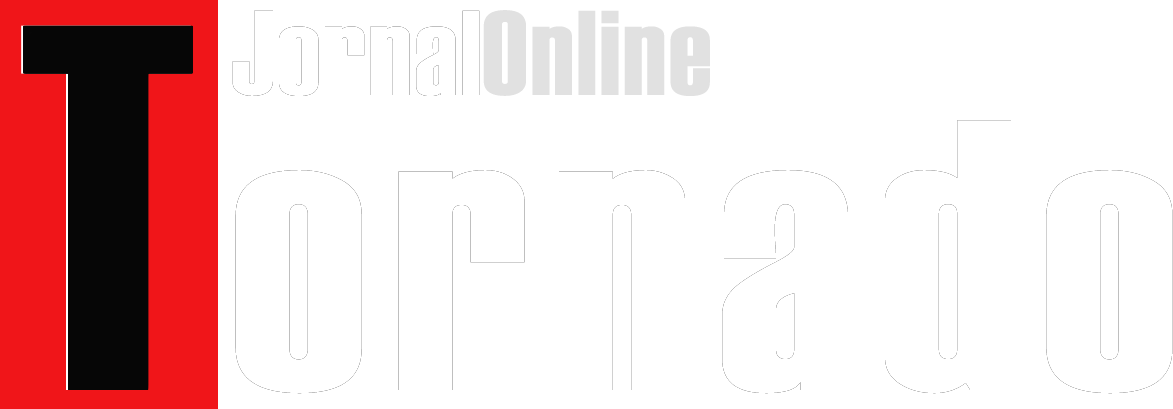A discussão sobre as instituições europeias – é rebarbativo afirmar que se trata de debater o futuro, porque numa sociedade aberta, não se decide sobre o passado – é oportuna e bem-vinda, mas em moldes totalmente diversos destes.
-
O apagar da história
Uma das formas mais violenta de distorção da história é a do seu apagamento, total ou parcial, sendo neste domínio tristemente famosos os esforços de negação do holocausto (raiz contemporânea da expressão ‘negacionismo’ que a dogmática das religiões pseudo-científicas contemporâneas se apropriou para aplicar aos não crentes) ou da revisão dos seus traços essenciais, incluindo a cooperação que lhe prestaram inúmeros regimes e personalidades da época.
Foi por isso com viva preocupação que me dei conta da decisão tomada em Novembro de 2019 pelos governos francês e alemão de promover a ‘conferência sobre o futuro da Europa’ – não dizendo uma palavra sobre a sua precedente, como se porventura se tratasse da primeira conferência sobre o tema – através de um documento oficioso (non-paper) divulgado por alguma imprensa.
A decisão seria tomada em conta apenas como ‘ideia’ no mês seguinte pelo Conselho e tornar-se-ia oficial já sob a Presidência portuguesa pelo Conselho, Comissão e Parlamento, que retomou de forma praticamente integral a decisão oficiosa do duo franco-alemão.
A primeira ‘Convenção sobre o Futuro da Europa’ foi aprovada pelo Conselho em Dezembro de 2001 e iniciou um processo que só iria terminar com o chamado Tratado de Lisboa, entrado em vigor apenas a 1 de Dezembro de 2009, tendo deixado pelo caminho a Constituição Europeia aprovada pelo Tratado de Roma, tratado que não viria a ser ratificado.

Imaginada por Giscard d’Estaing – o presidente da Convenção e o seu principal artífice – como réplica da Convenção de Filadélfia, que adaptou a Constituição dos Estados Unidos da América, a Convenção e os seus inúmeros debates, conferências e documentos, teve pelo menos o condão de discutir tudo e mais alguma coisa do que se entende que é a Europa, desde os seus valores judaico-cristãos (que viriam a ser rejeitados no preâmbulo constitucional) até à sua identidade e metas.
Já na altura existiram variadíssimas iniciativas que se destinavam a recolher a opinião dos cidadãos com o objectivo de recriar a atmosfera de uma sociedade civil que de livre vontade e iniciativa tivesse decidido transformar-se em convenção para decidir do seu destino comum, algo que me pareceu o aspecto mais lamentável da iniciativa por se tratar de uma imitação bacoca do que é a sociedade civil e do que foi a histórica convenção de Filadélfia.
Lembro-me de, nessa altura, ter encontrado nos corredores do Parlamento Europeu, no âmbito de uma das pretensas iniciativas da sociedade civil, um funcionário da Comissão Europeia recentemente reformado que me explicou, com ar compenetrado, que estava ali como representante da sociedade civil para decidir do ‘futuro da Europa’, imagem que retenho como símbolo do que pode ser a deriva do burlesco para o totalitário.
Em qualquer caso, independentemente do seu valor, não se pode ignorar tudo o que se escreveu e se disse nesse processo iniciado há vinte anos para recomeçar de novo a debater o mesmo tema como se não tivéssemos assistido já a essa discussão ou se como dela não houvesse nada a retirar.
-
A democracia representativa pressupõe a auscultação do eleitor
A consulta aos cidadãos é uma prática inerente a toda a democracia representativa em que o eleito tem como o nome indica, o dever de representar os eleitores. Essa consulta pode ser distante e formal através de sondagens, pode recorrer à imprensa – que supostamente dá voz ao povo, e daí ser conhecida como opinião pública – pode passar por espaços de consulta directa aos eleitores, reuniões públicas, ou o que quer que seja que o eleito entenda ser a melhor forma de auscultar o povo.
O ouvir da opinião do eleitor tem também o interesse de mostrar ao eleitor que o eleito escuta a sua opinião e que a procura ter em conta na sua acção política, sendo que essa postura se pode revelar, naturalmente, como mais ou menos sincera.
O Presidente Macron, eleito à margem de qualquer máquina partidária digna desse nome – e os partidos, mal ou bem, têm a função de transmitir a opinião dos eleitores – e com um posicionamento muito distanciado do cidadão, enfrentou com sucesso uma onda popular de contestação, os chamados coletes amarelos, com o que chamou primeiro de grande debate nacional e depois de Convenção cidadã sobre o Clima.
O sucesso da operação pouco teve a ver com a tradução em medidas políticas do que surgiu como opinião popular dessas convenções, onde de uma forma geral não convenceu, mas antes com a sua disponibilidade e capacidade para ouvir o povo, por vezes, horas a fio em lugares perdidos no seu vasto país.
Em contexto diferente, as presidências abertas de Mário Soares, que se sucederam ao mandato austero do General Eanes, foram imensamente populares pela mesma razão, não porque resultassem necessariamente em medidas concretas – e a figura do Presidente da República em Portugal, mais próxima da de um monarca constitucional, sem real poder executivo, exime-o de responsabilidades executivas – mas por transmitir a ideia de que o político cumpre o seu dever de auscultar o povo.
-
O abastardamento da democracia directa
Convenções como a de Filadélfia são por natureza acontecimentos únicos, porque só quando ainda não existe Estado se pode desencadear uma iniciativa livre de uma sociedade civil para o conceber.
A democracia directa pode passar pela constituição de assembleias representativas do povo selecionado de forma aleatória. É assim, por exemplo, que se formam júris populares em tribunais, e é possível seguir o mesmo sistema para decisões políticas, embora aqui o sistema preferido seja o do referendo.
Em qualquer dos casos, tanto nas decisões judiciais como nas políticas, o cidadão é chamado a decidir normalmente perante questões simples, claras e concretas – embora por vezes de enorme importância, como saber se alguém é culpado de um assassínio – ou sobre questões complexas, como o de um texto constitucional, mas com uma decisão simples: aprovar ou rejeitar o texto aprovado por uma assembleia de representantes.
Esta democracia directa não pode ser confundida com as convenções fundadoras de um Estado. Quando um Estado já existe, poderemos estar perante um golpe de Estado ou um movimento insurrecional mas, por definição, não poderemos estar perante uma sociedade civil que age convocada, suportada e enquadrada pelo Estado para decidir como se vai estruturar esse mesmo Estado.
As instituições europeias existem, e são elas que, de acordo com a informação disponibilizada pelo site europeu dedicado à conferência, são responsáveis pela sua condução. Não se trata por isso da sociedade civil a agir, mas antes das instituições europeias.
Que as instituições se proponham ouvir os cidadãos é naturalmente salutar, e que o façam de múltiplas formas, abrindo caixas e painéis electrónicos para contribuições, organizando debates em formatos múltiplos não causa por isso qualquer problema.
Que, no meio das múltiplas formas de debate que resolveram pôr em marcha, resolvam também promover quatro painéis de debate em que num dos quais incluindo matérias de organização do sistema eleitoral europeu, isso começa a ser mais preocupante, por uma razão simples: uma coisa é ouvir os cidadãos, outra é montar mecanismos de democracia directa, sendo de todo em todo desaconselháveis confusões nesta matéria.
A convenção afirma que os cidadãos são aleatoriamente escolhidos – o que só faz sentido se se pretende dar à sua voz um mandato político – mas não procede com o rigor e transparência necessários a que o processo possa ser tomado a sério: nenhuma identidade independente é responsável pela independência do processo; não há transparência na forma como são nomeados os ‘especialistas’ que orientam o debate e menos ainda dos ‘facilitadores profissionais’ e ‘polígrafos’ (fact-checkers) que coadjuvam os ‘especialistas’ a guiar os cidadãos; transparência nos orçamentos ou nas formas como os cidadãos são financiados para participar nos debates em Bruxelas ou Estrasburgo.
A decisão de dar aos jovens um peso maior no corpo de cidadãos selecionados – simpática, na medida em que se trate de um processo não decisório – abre contudo as portas ao tipo de manipulação infantil que se evidencia nos debates sobre o ‘clima’.
No meio de todo o tipo de desejos ou votos inconsequentes ou mesmo aberrantes, as decisões do painel 2 – o que trata de matéria institucional – surgem resoluções que só podem ser vistas com extrema preocupação.
A resolução 16 diz que – salvo num período transitório – as eleições europeias devem ser feitas exclusivamente através de listas transnacionais globais europeias de partidos europeus. É uma decisão aberrante e que é contrária a todo o equilíbrio necessário a um processo eleitoral e que ignora de forma ostensiva toda a evolução dos sistemas eleitorais democráticos europeus.
A resolução 34 propõe a participação de ‘cidadãos’ como observadores de todo o processo de decisão europeu, incluindo por isso, também, o Parlamento Europeu, ou seja, propõe a expropriação de uma das principais razões de ser da instituição parlamentar, que é exactamente a de controlar o processo de decisão no que é um procedimento literalmente anti-democrático, e que faz lembrar a justificação para o sistema de comissários políticos de sistemas totalitários.
A discussão sobre as instituições europeias – é rebarbativo afirmar que se trata de debater o futuro, porque numa sociedade aberta, não se decide sobre o passado – é oportuna e bem-vinda, mas em moldes totalmente diversos destes.
Perante isto, só há uma solução possível: a de a sociedade civil tomar o debate entre mãos e fazer-se ouvir para obstar a estas tentações totalitárias travestidas de atitudes populistas.
É o que tentei fazer há sete anos atrás com a ‘Nossa Europa’ lema que queria dizer exactamente isso: A Europa é nossa, dos cidadãos europeus, e não de quem quer que seja que pretenda falar em seu nome.