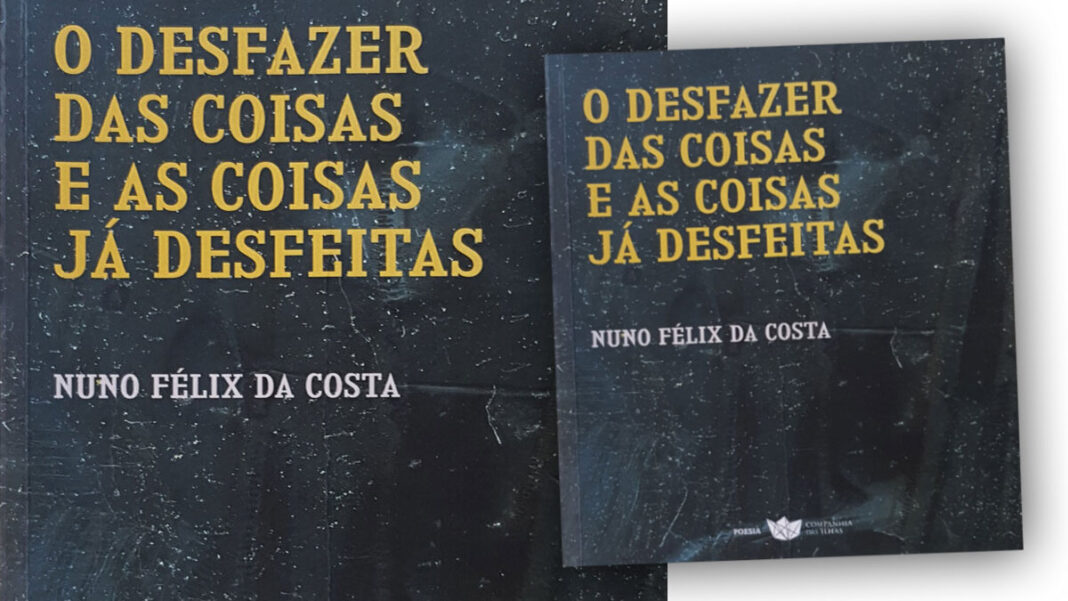ed. Companhia das Ilhas, 2015
Estava eu a pensar no que podem ser as coisas desfeitas, e como se desfazem, pelo tempo onde ficam esquecidas, ou pela vida, a destecelã por excelência, roubando agora uma ideia ao desaniversário sem chá, da Alice, a figura que ainda hoje é a mais desconcertante e inspiradora com que deparamos, ao reler de novo as suas aventuras.
Entre a imensa colecção de imagens animais que atravessam as metáforas de Nuno Félix da Costa (que podemos tentar comparar a Comte Lautréamont e ao tubarão com quem vai acasalar, sublinhando em ambos a tónica surrealista que atravessa os Cantos e os Poemas) vamos encontrar num poema que assenta bem neste resto de quadra natalícia, em que uma pandemia nos baralha os espíritos, os projectos, nos reduz ao pouco que somos num universo imenso, o da atitude do Pai Natal perante uma revolução (p. 171). Embora o tom seja basicamente irónico – pois quem acredita ainda num Pai Natal qualquer que ele seja, a não ser uma criança de infância resguardada (algo de cada vez mais raro, pois a publicidade que invade o mundo real, os media, não o permite) – a mim trouxe-me um recordação feliz da minha infância em Buenos Aires: levei a um pai Natal que estava no último andar do Harrods argentino, que sentava os meninos ao colo e perguntava se tinham sido ajuizados, pegava na carta onde iam os pedidos de prendas e explicava: eu leio, depois entrego os presentes aos Reis Magos e são eles que no dia de Reis levam as prendas a cada casa. Assim aconteceu comigo: no dia de Reis tocaram à porta do nosso apartamento, fui a correr (tinha sete anos nessa altura) e vi pousado no chão o bébé de borracha que tinha pedido. Acreditei no Pai Natal até quase aos dez anos, quando regressada a Portugal a troça das minhas amigas me desfez o encanto, por muito que eu dissesse que lá, na Argentina, tinha estado ao colo dele. A história do Pai Natal está magnificamente descrita no blog deste domingo, o De outra Maneira, por Isabel Almasqué. Ali encontram a verdadeira origem da lenda, a partir da existência do culto a um Santo medieval. Mas o que ficou no imaginário de um poeta contemporâneo, que põe o Pai Natal das barbas risonhas diante de uma revolução?
Agora dou-lhe a palavra:
“Ainda amo o Pai Natal – espero-o com um grau de certeza injustificado / mas esperar é como chegar ao crepúsculo sentir fome e ter a ceia – ou um / sonho que se repetirá sem surpresas – sem reparar que se acumularam os dias / e que o livro poderá nunca ser escrito – Mas amo a possibilidade de / uma ocasião de sorte – de escorregar e não cair como uma atitude geral / de os corpos tenderem para a própria ideia e a matéria que sorri ser nuvem / Todos os dias visitamos as crenças dispostos a mudanças mas estamos / na terceira geração de reis exilados – A revolução também falhou – / as fábricas enferrujaram na cirrose operária – É prático ter crenças / revolucionárias desde que possamos morrer por elas / Enquanto os reis exilados na sua memória de Pais Natais temem / a forca nós levamos o inverosímil para o sonho e deste ao real / é um passo que nem discutimos”.
Qual é a lição do texto? Que o sonho ainda é possível se o levarmos connosco para o real onde a ceia esperada nos é servida? A festa, mal ou bem, é desejada, é esperada, e como nos contos de infância terá uma solução feliz, que o poeta reconhece que nem se discute. A alma precisa dessa ilusão, dessa espera ansiada desse alimento que o poeta define como ceia. E neste caso a ceia não é a última, de Cristo com Judas traidor, esta é a dos Reis e dos pastores guiados por uma estrela nova, propícia, que vem saudar uma criança nascida. Jesus menino ainda não é Cristo.