De José Gil, A Imagem-Nua E As Pequenas Percepções, ed.Relógio d’Água, Lisboa, 1996 (tradução do francês de Miguel Serras Pereira).
 Uma obra de leitura obrigatória para quem se interesse pelas questões da percepção do Belo, através das obras de um Duchamp, de um Malevitch e outros, discutindo pelo caminho o pensamento de Kant, mas e acima de tudo abrindo a doutrina das pequenas percepções na experiência estética, de que modo se pressentem, se manifestam e influenciam a sensibilidade e o pensamento, permitindo uma melhor compreensão do que é o fenómeno estético, nos nossos dias e não só.
Uma obra de leitura obrigatória para quem se interesse pelas questões da percepção do Belo, através das obras de um Duchamp, de um Malevitch e outros, discutindo pelo caminho o pensamento de Kant, mas e acima de tudo abrindo a doutrina das pequenas percepções na experiência estética, de que modo se pressentem, se manifestam e influenciam a sensibilidade e o pensamento, permitindo uma melhor compreensão do que é o fenómeno estético, nos nossos dias e não só.
Comecemos pela “visão do invisível”.
Diz o autor:
“A experiência primeira é a da imagem intensiva. Antes de a percepção se estabilizar, se fixar à distância e se impor, o mundo da primeira infância organiza-se em torno de vagas sensoriais num turbilhão, imprevisíveis. Antes da consciência perceptiva, há as variações da imagem. Porque a sensação desabrocha em imagens, tal como a percepção: o bloco emotivo que as atravessa e as envolve mantém-nas ainda soldadas, indiferenciadas, sincronizadas” (p. 23).
Repare-se como estas observações de imediato nos ajudam a ver/ler melhor, muito melhor, uma obra como a de Paula Rego, que se constrói a partir, precisamente, de um conjunto de imagens resultantes do mundo da infância, mas que a mão ordena, à medida que a consciência as recebe exprime.
Pois se é certo que a experiência estética, como sublinha José Gil, ” não visa um sentido”, ” é desinteressada”, na medida em que nada exige em troca a não ser esse mesmo prazer estético, não é menos certo que procura e oferece uma determinada visibilidade do invisível, um “aparecer singular do ser e do espírito”, citando outra vez José Gil (p.24).
Fernando Pessoa, o supremo interrogador da consciência, deixa bem claro este percurso, num célebre poema do ciclo de Além-Deus:
I/ Abismo
Olho o Tejo, e de tal arte
Que me esquece olhar olhando,
E súbito isto me bate
De encontro ao devaneando-
O que é ser-rio, e correr?
O que é está-lo eu a ver?
Sinto de repente pouco,
Vácuo, o momento, o lugar.
Tudo de repente é ôco-
Mesmo o meu estar a pensar.
Tudo- eu e o mundo em redor-
Fica mais que exterior “.
O poema continua, descrevendo, depois da experiência do Vazio, a Iluminação de Deus.
Mas o que nos interessa é a descrição de como a imagem primeira, do rio a correr, e a percepção desse facto, de que o rio está a correr e o poeta a olhar para ele, o conduzirá a uma interrogação, também ela primeira, do que é o próprio ser.
Assim, a interrogação é a seguinte: o que sou eu, que aqui estou, perante o rio que corre?
No ôco do pensamento que então se forma, no vazio de onde tudo emana, imagens, percepções, se dará então o encontro com Deus: “E súbito encontro Deus”.
A pequena percepção do rio conduzirá o poeta, ao pensar no significado da sua existência, no seu estar-ali, diante do rio (imagem tradicional da vida) a uma percepção maior, que se forma no vazio da própria consciência, segundo as descrições mais do que abundantes da mística tradicional.
Mas o poema V/Braço Sem Corpo Brandindo Um Gládio nos levará muito mais longe, para além da percepção abismal de Deus, tida no início:
Entre a árvore e o vê-la
Onde está o sonho?
Que arco da ponte mais vela
Deus? E eu fico tristonho
Por não saber se a curva da ponte
É a curva do horizonte…
Entre o que vive e a vida
Pra que lado corre o rio?
Árvore de fôlhas vestida-
Entre isso e Árvore há fio?
Pombas voando- o pombal
Está-lhes sempre à direita, ou é real?
Deus é um grande Intervalo,
Mas entre quê e quê?…
Entre o que digo e o que calo
Existo?
Quem é que me vê?
Erro-me…E o pombal elevado
Está em tôrno na pomba, ou de lado?
A interrogação aprofundou-se, posto de lado o mistério de Deus, que permanece incognoscível (… grande Intervalo/ Mas entre quê e quê) e centra-se agora na própria consciência do eu, suporte de uma existência que é interrogada, também ela, sem que surja resposta de imediato.
Não haverá resposta, mas permanente interrogação, e nisso reside a modernidade do poema, que podemos continuar a decifrar lendo um outro, mais definido como proposta inovadora, Chuva Oblíqua, matriz do Interseccionismo que Pessoa viria a propôr como seu contributo para os ismos do tempo.
Em Chuva Oblíqua cruzam-se duas paisagens, uma exterior, de uma Lisboa marítima, outra interior, de um sentimento ou de uma consciência de si já dividida em que não se distinguirá a matéria real da matéria do sonho: “Liberto em duplo, abandonei-me da paisagem abaixo…/Não sei quem me sonho…”.
O poema é composto por seis estrofes, cada uma jogando com as intersecções que serão sua marca, num jogo alquímico de elementos opostos:
Terra/Mar
Sol/ Sombra
Horizontal/Vertical
Lado de cá/Lado de lá
Interior/Exterior
Tempo/Espaço
Presente/Passado
Branco/Negro
para culminar, na estrofe V, com uma imperfeita imagem do andrógino mítico, descrito pela fusão de “dois grupos que se encontram e se penetram/ Até formarem só um que é dois” banhados por uma luz de lua e de sol, que ali também se fundem, no meio de um conjunto de imagens soltas, desconexas, recordando o exercício proposto da intersecção surreal.
Há duas realidades no poema, e em cada estrofe a “hora dupla”, como o poeta a define, permite ver não a realidade mesma mas “o pó das duas realidades”: o rasto, a marca imaginal, “pó de oiro branco e negro sobre os meus dedos…”.
Finalmente na estrofe VI se revela o processo de incantação sofrido, ou provocado: o maestro (a Razão condutora? a Emoção primeira?) sacode a batuta e o poeta recorda a sua infância, quando brincava no quintal, e conclui que a sua infância está em todos os lugares: assim, como num processo de análise minucioso, ainda que surpreendente, pois não oferece paz, nem solução.
Confundem-se as imagens ao ritmo de uma composição alucinada, como o girar da bola da infância no quintal, até que
” A música cessa como um muro que desaba/ A bola rola pelo despenhadeiro dos sonhos interrompidos”
e o maestro, tornando-se “preto” agradece com uma bola “branca” no alto da cabeça “Bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo…”
Foi um poema-sonho, um poema-viagem pela esfera do inconsciente, o Intervalo onde nem Deus nem Homem afinal se revelam plenamente, deixando apenas um apontamento: o da infância onde tudo teve, tem e pode ou não vir a ter lugar.
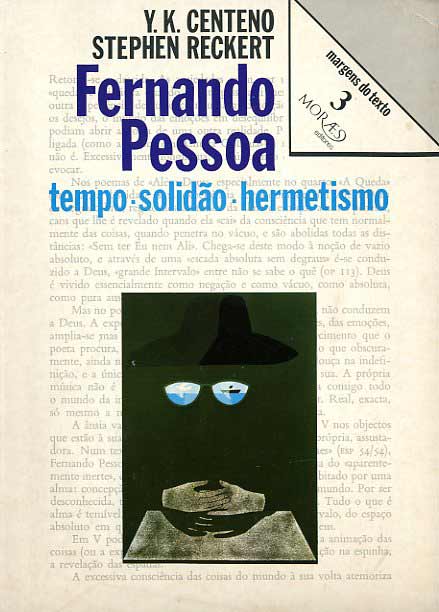 Como tive ocasião de escrever em ensaio publicado há anos (S.Reckert, Y.Centeno, Fernando Pessoa, Tempo, Solidão, Hermetismo, 1978 ), é útil recordar que Chuva Oblíqua foi escrito logo a seguir a O Guardador de Rebanhos de Caeiro, marcando a grande ruptura heteronímica do poeta.
Como tive ocasião de escrever em ensaio publicado há anos (S.Reckert, Y.Centeno, Fernando Pessoa, Tempo, Solidão, Hermetismo, 1978 ), é útil recordar que Chuva Oblíqua foi escrito logo a seguir a O Guardador de Rebanhos de Caeiro, marcando a grande ruptura heteronímica do poeta.
Chuva Oblíqua seria, nas palavras do poeta, a tentativa de regressar a si mesmo:
“O regresso de FernandoPessoa-Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele só…a reacção de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como Alberto Caeiro (Obra Poética, 683).
Na impossibilidade de regressar à inconsciência inocente da infância, como propõe Caeiro (Mestre, mas ingénuo…) regressa o poeta a si próprio: para sempre consciente e dividido;
Como afirmou Eduardo Lourenço, Chuva Oblíqua é uma tentativa vã de unificar o que se tinha quebrado. A par de uma aspiração forte à Unidade o que se verifica é uma fragmentação definitiva, o Tropeção no Intervalo, a Queda no Abismo da própria consciência indefinida.
O poeta atravessou o limiar das múltiplas sensações, vindo a descobrir que nada na arte tem limite.




