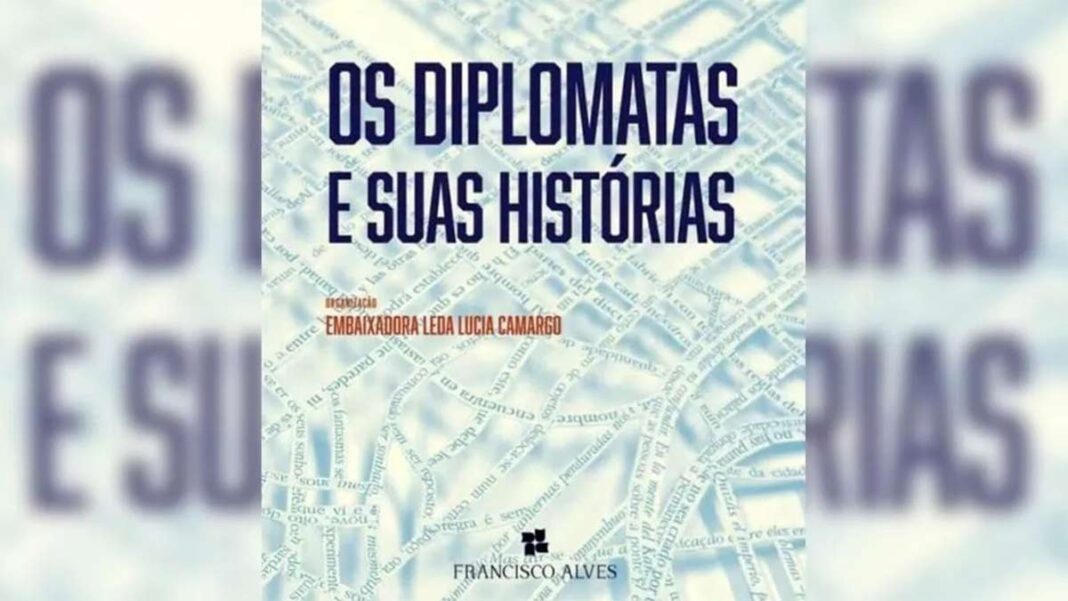Nesta hora de reconstrução do Brasil, a espera pelo novo tempo é intensa nas instituições mais maltratadas pelo governo que se encerra. Entre elas, o Itamaraty. Nossa diplomacia, reconhecida pela excelência de sua organização e de seus quadros, foi das carreiras de Estado que mais sofreu com a aspereza bolsonarista. É uma boa hora para falar dela, e o faço aqui por um ângulo particular, resenhando o livro “Os diplomatas e suas histórias”, organizado pela embaixadora Leda Lucia Camargo.
Geralmente pensamos que os diplomatas levam uma vida glamurosa e fácil no exterior, ganhando em dólares, conhecendo diferentes países e culturas, frequentando palácios, indo a banquetes e convivendo com figuras poderosas, às vezes com cabeças coroadas. Sabemos pouco sobre o ofício e sobre o que enfrentam estes brasileiros e brasileiras que, depois de aprovados num concurso dificílimo, do curso de formação e das etapas iniciais da carreira, são encarregados de defender os interesses do Estado brasileiro no exterior.
Todos eles sonham com um posto no chamado circuito Elizabeth Arden, que hoje não se limita a Nova York, Paris e Londres – onde no início do século passado podiam ser comprados os produtos da pioneira griffe de cosméticos. A lista cobiçada hoje inclui Washington, Buenos Aires, Roma, Lisboa, Berlim, Genebra, Moscou, Tóquio e Pequim, entre outros postos.
Mas este circuito é estreito e a política externa é larga. Ao longo da carreira um diplomata pode ser deslocado para um país vizinho, de onde pode vir com mais frequência ao Brasil, ou também para países distantes da Ásia ou para nações pobres da África. Ou ainda para zonas de conflito e guerra, onde a própria vida passa a correr risco. Poderão experimentar verdadeiros choques culturais, terão que aprender línguas exóticas, para além das que são obrigatórias para o ingresso na carreira, e até mesmo se ver privados de confortos triviais.
Seja onde for, lidarão com situações complexas, tendo que tomar decisões difíceis, às vezes por conta própria.
O livro organizado pela embaixadora Leda é composto por crônicas escritas por 26 embaixadores, em que recordam passagens marcantes de suas trajetórias, seja no enfrentamento de questões de Estado ou de problemas logísticos, e também dos contatos que tiveram com personalidades marcantes, da política, da arte ou da cultura. Entre eles estão Celso Amorim, Rubens Ricupero, Roberto Abdenur, Marcos Azambuja, Flávio Macieira, João Almino, Marcio Dias, Maurício Lyrio e a própria Leda. E também dois estrangeiros: o argentino Vicente Espeche Gil, o tcheco Ivan Jancarek e o mexicano Jaime Nualart.
Se eu resumir aqui todas as histórias que eles contam saboto o livro, uma leitura prazerosa e instrutiva. Mas pinço alguns textos, descriteriosamente. O de Celso Amorim, duas vezes chanceler, é dos mais curtos porém dos que mais ensinam sobre o ofício, e especialmente sobre o valor da rebuscada linguagem diplomática. Com alguns exemplos ele nos mostra que o “palavreado aparentemente oco” pode produzir consequências positivas ou negativas. Foi o caso da arenga de que ele participou na OMC sobre a quebra de patentes de medicamentos por países em desenvolvimento, para atender às suas urgências em saúde pública. Os países ricos resistiram muito ao uso do verbo “must”, que tornaria a decisão mandatória. Ao final acordaram em usar “can and should”, para dizer que tais países “podem e devem” quebrar patentes quando a saúde de seus povos exigir. Dessa medida derivou, por exemplo, a política brasileira de genéricos e a de combate à Aids.
Em um texto muito informativo e que nos deixa com os nervos tensos, Roberto Abdenur recorda a marcha dos fatos que terminaram com o chamado massacre da Praça da Paz Celestial, a Tianamem, em 1989. Ele chegara há pouco como embaixador a uma China em mutação. Fez questão de andar pelas ruas no dia em que as tropas abriram fogo contra a multidão e, mais tarde, contra prédios em que viviam diplomatas estrangeiros. Ninguém morreu porque haviam sido evacuados mais cedo.
Maurício Lyrio, dono de texto elegante e leve, recorda entre outras passagens sua participação nas penosas negociações da Alca, então chefiadas pelo embaixador Adhemar Bahadian. Elas ficaram ainda mais tensas a partir de 2003, com a posse de Lula, quando vai ficando claro que vão naufragar. Alguns momentos foram dramáticos, outros cômicos. Na coletiva de imprensa após mais uma reunião, esta no Itamaraty do Rio, um militante do grupo anarquista “confeiteiros sem fronteira” fez-se passar por jornalista e atirou uma torta de chantilly na cara do negociador norte-americano Peter Algeier. Eu me lembro das imagens, que pelo menos aqui saíram nos jornais e telejornais.
Dentro de alguns meses Lyrio ouviria Bahadian resumir o fracasso das negociações com mais uma de suas recorrentes metáforas: “Esses acordos com os EUA não passam de um papai noel de shopping: são magrinhos e carregam caixas de presentes vazias”.
A organizadora do livro, Leda Lúcia Camargo, conta histórias deliciosas, especialmente sobre as visitas de autoridades estrangeiras ao Brasil que ela acompanhou. Uma delas foi a do hoje rei Charles III, da Inglaterra, que aqui ficou oito dias em 1978, passando por Rio, São Paulo, Brasília, Belém e Manaus. Passados tantos anos, ela nos surpreende com a riqueza de detalhes, alguns picantes. Relato precioso ela faz também sobre a visita do príncipe Akihito, depois imperador do Japão.
Mas cada realeza com seus protocolos. Como embaixadora em Moçambique, ela acumulou a representação junto à Suazilândia. Apresentou credenciais a Mzwatti III, um rei que nas cerimônias oficiais usava símbolos tribais: roupa feita com pele de trigre, colar de dentes de onça e penacho vermelho na cabeça. Podia casar quantas vezes quisesse, escolhendo nova noiva a cada aniversário. Ao relatar estas “estranhezas” ela recorda ter se proibido de julgar uma outra cultura a partir de seus próprios valores. Se o preconceito e o etnocentrismo são inaceitáveis, a um diplomata são imperdoáveis.
Gostei muito das histórias do embaixador Flávio Macieira, um memorialista de escrita fina. Uma de suas crônicas é “Tâmaras”, em que conta episódios de sua passagem pelo Iraque, que ainda não se tornara país maldito para o Ocidente. Estava em curso a guerra com o vizinho Irã, e a vida em Bagdad era um pesadelo constante. Os mísseis tipo Scud lançados pelo Irã, sem direcionamento preciso, caíam em qualquer ponto da cidade com enorme estrondo, destruindo prédios, abrindo crateras e matando civis. Um deles caiu na área em que ficava a embaixada e em que morava a maioria dos diplomatas e funcionários brasileiros. Aterrorizados, passaram a noite amontadoados na casa de Flávio e Josiane, embora a proteção fosse apenas emocional.
Ele era embaixador interino, um encarregado, e certo dia foi chamado pelo chanceler de Saddan Hussein. Era dezembro e uma construtora brasileira estava retirando seus operários do Iraque. Em tom nada diplomático, eu cobrava uma garantia do Brasil de que a obra seria retomada em janeiro, como prometia a empresa. Caso contrário, não haveria embarques. Na falta de uma resposta que pedia a Brasília há alguns dias, Macieira garantiu, por sua própria conta e risco, que sim, a obra seria concluída. Antes do Natal, centenas de operários embarcaram para o Brasil em aviões da Varig. Com a guerra, talvez a empresa não voltasse, e haveria problemas, mas não era hora de pensar nisso: “Caminhando às margens do Tigre, eu escutava a voz rascante do vento quente conversando com as folhas altas das tamareiras”, conclui o embaixador.
Uma segunda crônica relata turbulências na Nicarágua, e outra um drama passado na embaixada em Oslo, a disputa por Alice. A mãe, divorciada de um noruguês, adentrara a embaixada com a criança. Lá fora, autoridades nacionais tentavam resgatá-la a pedido do pai. A novela foi longa mas com final feliz. Também antes do Natal.
Gostei muito, também, do texto “Punhos de renda”, da embaixadora Katia Gilaberte, rebatendo o velho arquétipo associado aos primeiros diplomatas brasileiros, originários da nobreza. Em 2005 ela chegou ao Senegal e encontrou a residência oficial, propriedade brasileira, em estado calamitoso, inabitável. Estava fechada há mais de dois anos, pois o antigo ocupante fora chamado para uma missão em Brasília e não fora ainda substituído. Ali vivera, anos antes, João Cabral de Melo Neto. Piso enlameado, cozinha com “camadas ancestrais de gordura”, móveis apodrecidos, jardins tomados pelo mato. Sem contar ainda com empregados, ela e a oficial de chancelaria Marisa Bergemann pegaram no batente, depois de tudo fotografarem para o relatório ao Itamaraty. Compraram material de limpeza, trocaram saltos altos por chinelos e fizeram uma limpeza em regra do pardieiro.
Mas isso foi o começo. Depois vieram as boas ações de cooperação que ela pode desenvolver: o Brasil acabou colaborando no combate aos “gafanhotos peregrinos”, que periodicamente destruíam as plantações, e no enfrentamento da anemia falciforme, entre outras ações.
Meu filho Rodrigo é um jovem diplomata, hoje em seu primeiro posto, em Nova York. Deixei lá com ele um exemplar do livro, desejando que viva também boas histórias, servindo da melhor forma ao Brasil, como sei que o fará.
Texto original em português do Brasil