Que fundo ou que margem, ouvira que voz sobre que rio ou viagem, que eco ou que nada se por ventura em mim a dor.
26
Meu olhar dissipa contra a luz. Defeito teu. Olhar. Calma de gestos, teu toque marca quanto longe a marca azeda. Teu coração. Meu. Nunca mais lá irei. Com espadas espetadas na alma. O sorriso navega os sabores corridos das horas queimadas em tuas mãos. Minhas. Saúdo um nome engolido ante o vazio das horas. Porque chove repentinamente. Porque sovam secretamente. Ainda a vi sonhando as ruas do marco, ainda a vi vadiando as marcas do douro. Porque me fazem chorar tantas areias da cidade deste mar que me entra avulso a casa, engole o ritual do lar. Quem disse que isto é mar?
Sou dum bairro onde se perde o sempre tempo. Onde nem sequer da noite se nota. Sou dum canto emprestado da vida onde nem sequer um nome se encontra. Ainda que da vila a vida siga e dos tormentos que importa mais dizer? Há águas certamente, não esqueças, era teu nome além, sim, flutuando o silêncio do tempo que ingeria as almas dum cerco na pele de ti, pois é, sabe-lo, creio. Nada. Foi aí, distante e inócuo que emparedei a rosna do desejo, que acumulei a dor do lampejo, que saciei o silêncio do longe, Lembras amor, que rio sorrio teus beijos diante o peito do meu medo? Que noite será novamente esta até que o fim seja a vida contigo.
Sou quem não para em quatro cantos. Não busco só o nada. Nada busco. Esgravato as subtilezas do mar silencioso. Os recantos do infinito. O sótão das memórias, onde se escondem as noites perdidas, num rio fantasma, fantasiado, num rio deveras real, nas encostas azuis do infinito, onde deslizo o semblante, onde entrego o destino das minhas mortes, das minhas horas, dos meus dias, imitando quem canta, copiando quem anda, e vou andando, ate serenar a falésia, onde conseguir amansar o meu resto, os restos da vida, do tempo, de tudo, este nada que rima com vendaval, areal dos céus aniquilados com as mãos de ninguém, ou alojar-me composto num quarto sem fim.
Se por ventura o sono for breve, ou leve, se acaso por aqui estiver, ou aqui eu existir, que me leve e arrume em si tal sono, que me guarde nos templários mais remotos da invenção do dormir, que me deixe sem agir e nem sequer gritar, que me faça dormir, como fica quem dorme, se por ventura acontecer tal sono, que seja então ele a consumir-me, ele a evaporar-me destes ruidosos e rocambolescos silêncios, destes marcos onde a minha vida se finda, onde se findam os meus sonhos acordado, onde nem sequer de mistérios a vida se veste, ou despe, onde nada se consome estranhamente, nem com fé, pertenço aos que me levam e que sejam quem forem, se por ventura a vida num azul de nadas me encha como um rio que me mata, me encha de sua água seca e leve, ao fundo de si, da sua distância, ao fundo da vida, a que vivem os rios da vida onde nem sequer amei ainda, nem que mais fales comigo, nunca mais, nem que digas nada, nem silêncio, não estranho, não, não estranho, garanto, sou filho da água que a sorte inventou, a sorte que perpetuou um fim breve, o que me leva em segundos, e nada mais sentirei, nada mais consentirei, nem que voltes e repitas nada, como antes, ou como de repente, eu me sente diante de ti e me invente, ate conseguir quem sabe, ouvir-te novamente como antes, numa vida inventada junto ao rio da vila mais inventada da minha vida. Lábios talvez.
Sintam confuso este recuo. Avanço. Que se confundam sempre. Ou nunca. Que se vejam perturbados, que emaranhem como quem cá esta, diante a distância, perante o muro, sobre o rio, ate que eu durma, nada interfere, acredita, sim. Depois de consumidas as horas, as que pareciam perdidas, ou o resto que viera das nuvens atravessar-se à distância, relâmpagos e beijos quase pareciam fazer saltar os quadrados da calçada, numa rumaria de sonhos, quem sabe, quem soube dizer às noites contos inventados entre os passos perdidos, entre os espaços e os espaçados silêncios das vozes repletas de escuro numa vida recatada em cada um, quase se faziam sentir e flutuariam as ondas que escorrem pelas faces, sem a amargura do tempo, sem nostalgia viva bem longe da mão, ou alojada no âmago refastelado no sofá da nossa alma, que as vezes parece estar a dormir, às vezes parece querer perder-se, sinto, nada se faz por aqui. Além disto há nada.
Os olhos encharcam-se num breu de gelo nas margens clandestinas duma choupana ali mesmo à minha beira. Goticulando sucessivamente, deixando-me numa calma fálica de nervos a segredarem-me pelos ouvidos do raciocínio:
– Sai daqui!
Para lá dos vidros opacos da janela, verdumes colados na antiguidade dum abandono depressivo, o arrastar oxidante de pés a levarem-me no ruído dos calcanhares obesos do vento solto lá fora, pelos entraves estalidos que me arrombam o escuro do quarto e me fazem levantar-me, sair do aconchego vadio que me alimenta por instantes, e vou:
– Sai daqui!
A minha consciência talvez. Embrulhada no cristal oculto que me sobrevoa como anjos de asas e sem penas nas pontas, via os bicos afinados nas falanges brancas dos seus gritos a incomodarem-me a alma:
– Sai daqui!
Pena ver apenas isto. Talvez os ciprestes na lombada oca lá longe, um quintal, os traços no chão da passagem do carro a sumirem-se tão vagarosamente como a de um céu a romper este desejo de que chova vertiginosamente. Se conseguisse dizia:
– Que chova de verdade!
Mas pior que não conseguir, é não poder. Por isso não digo, apenas sonho este temporal único sobre a minha cabeça já fora deste quarto, onde as paredes já se afastam de mim cada vez que ouse um movimento:
– Sai daqui!
Diz-se que podemos chorar de vez em quando. Sem a obrigação de um luto. Quem sabe, são de ouro essas lágrimas e apenas fogem das dores duma gravidez desta alma, e buscam cá fora um calor a derreter-me devagar, colocando-me depois num dedo solitário, viajar nesse dedo todas as vezes que ele viajar, umas quantas eternidades, e ser nesse dedo a lágrima que estava aprisionada na gravidez de uma alma de quantos sonhos amarrotados pelos lençóis escondidos, neste quarto de vila alguma.
Não sei nem consigo, onde queres que esteja não estarei, não consigo chegar sem que me remes os teus braços, não conseguirei incorporar nos teus gestos o leque veludoso da tua voz, nas tuas mãos, não sei constituir os teus desejos nem a vontade que alimentes, não sei, mesmo que tente fragilizar a minha verdade, a minha essência, não sei, mesmo que viole os meus princípios, faça guerra contra as minhas limitações, não sei, onde conseguir inventar passos que me devassem e arruínem, até que me despreze e me entregue aos teus deliciosos beijos, não consigo percorrer os vazios da minha alma e alimentar-me como se tua vida fosse, beber de ti e alimentar-me de sonhos teus, não consigo, não, mesmo tentando, perco, perco-me nos escombros do meu silêncio e na minha incapacidade de decidir-me, se vou ate ti ou se me deixe por cá, entregue aos instantes que me façam escutar-me, aos sonhos que tivera sobre ti, aos momentos porque ainda em ti vivi, vi, senti, mais não sei, nem consigo, nem forças mais tenho, fico-me nas ostras do meu tempo e nas limitações do meu desejo, porque chegar aí, onde estás, me é impossibilitado pelas tuas próprias inconstâncias e passos, que se deslocam, cada vez mais, aos glossários oriundos de ti mesma, que se distam da vida que subestimas, e vives, num rol próprio dos teus ideias, que ultrapassem ou não o que tu mesma saberás entender.
Ao que me pedes e largas, todas as manhãs, todos os dias, ao que por que mim dizes sentir e calas, quando te pergunto quem sou, a resposta que evitas quando te peço que me beijes, quando finges não entender que existo, ou que sabes ser verdade estar aqui, entre mim e ti, o soluço axadrezado dos nossos sonhos engendrados por momentos que em tempos, verdadeiros e mais calorosos, nos protegeram instantes e breves segundos, se dissipam sei, mas nunca se perderão garanto, sou mais que aquele inventado cruzar de intenções, ou de palavras atiradas ao corpo um do outro, parecendo um acaso da circunstância, porque nos queríamos apenas ali e nunca sempre, fugindo depois da verdade porque mais do que isso, nada seria interessante, nada valeria constituir e nada mesmo valeria construir, por isso, te digo simplesmente porque nada mais mesmo sei.
Se pensar chegar, pensarei, ou se menos até for suficiente, fá-lo, mas não me peças mais que vontades que não conseguirei nunca, não porque não queira, não porque não tenha vontade, mas sim, porque como entendes não sou capaz, sou limitado e até aí, não conseguirei chegar, nem que lances ventos a empurrem até ti, onde estás e nada dizes, a não ser o que apelas quando o teu coração sente solidão e sonha com outro, que seja o meu, reclamas devagar e gritas contra as paredes o vazio do teu tempo que a vida resolvida assim, por ti, tenha culminado num mar maior onde se torne impossível os nosso dedos se tocarem. Não sei, sei apenas que não consigo e assim não sigo, onde moras com tua voz e não comigo, os beijos serão teus e não meus.
Que fundo ou que margem, ouvira que voz sobre que rio ou viagem, que eco ou que nada se por ventura em mim a dor.
Naquela subtil manhã de que mês não sei, uma voz mandara sob que sentenças ríspidas, cumprir ordens tanto faz e fui, no silêncio mais mordaz do meu aniversário cumprir.
– O peixe, certo?
Na esquina difunda onde mordazes passos se ouçam, quem diz.
– Ouço-os!
Num desplante de quem me dirige essa ordem a cumprir e vou, num gás de morte o meu avo, que ouvira onde tanto faz nada mais, alem disso, era cumprir, a minha obrigação sem mais nem menos e fui, depois de pontapeado pelo vento da ignorância a vadiar o meu doloroso silêncio no estendal de brancos panos na cama arrumada a canto nenhum, como que se a vida fosse o ríspido nulo do que tiver de ser e era como seguia eu, noite enfim e na cama contigo o meu degelo de mares numa nenhuma ousadia, um sonho quem seja merenda, o cúbico manjar dos deuses nestes míseros silêncios do caminho pelas estradas escondidas de que verdade, verdade digo, sentido nenhum que importa e merda.
Não sei que são saudades já. Ou trifásica onda dos momentos. Não sei já, se moras no tempo. Saudades. Sinto todas as saudades. Do tempo. Sinto as marcas. Que invento. Não sei.
Qualquer coisa como lágrimas, realmente, ou recorde, que marca a vida inventou na pele sumida dos momentos, eternamente cantados. Ou como se queria, se consegue, sei. Saudades, como se a ausência chegasse, o futuro fugisse, ou saudades talvez de que se queira saber, que seja. Poderia ser se soubesse quem será, a saudade apenas isso, do que não sei sequer se posso, ou que me proíbam os passos que perco. Os meus.
Não sei ainda é certo o que sinto. Sinto apenas e sei que sinto, tanto faz, que importa? Nada digas, a sério, não digas que o que pensam não importe, se saudades são, são dores que invento porque as sinto, queiras ou não que as sinta contigo.
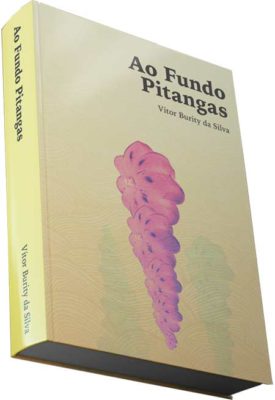 Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas
Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas




