Como dois amigos, sabes, aqui sentados nestes troncos à beira da estrada, fala da tua vontade ou tuas vontades.
7
Bem cedo o sangue mergulhava as minhas insípidas vontades, o relento corria lá fora onde lá fora vivo, a rua enchia o relento com relatos e música, a minha vontade eras tu, sei, de um dia, apesar de não poder, quis conversar e encontrei-me na sala da tua rua preenchida de casulos como um hospital psiquiátrico, de olhos voltados para cima a confessar divindades perdidas, oxalá oxigénio, ideias, faz-nos bem ter ideias. Faz-nos refrescar desta impaciência coisa que não sinto, a impaciência, desde diálogos formosos e de cheiro a glamour esse perfume onde chego jamais, caro de mais para com ele partilhar o olfacto da minha incapacidade, e encontrar-me vazio, neste relento vago e ser contigo pedaços de mãos dadas numa falência de essências, o buraco cru do coração perdido ou nem isso, sei como preferem certas pessoas seguir mesmo que nem sequer seja o seu propósito, há valores acima Salvador, cunhos da casa da moeda, antes era o escudo hoje nem sei nem me importa, a vida, sabes, a vida, e desde que de mim fugiu perdi-me de mim mesmo e por isso o relento do nada saber, espalho ideias pelas escadas desta casa onde nem tu, onde ninguém, a não ser a reminiscência da minha alma sentada no último degrau da saudade e nesta casa os arrumos onde se enforcara o Felício.
Como dois amigos, sabes, aqui sentados nestes troncos à beira da estrada, fala da tua vontade ou tuas vontades.
Só os velhos morrem
Imaginar-me assim, acredito, um dia imaginar-me-ei assim.
Pelos que conto, não chegam para ser ou sentir-me velho, mas se for, como eles morrerei.
– De novo essa conversa, Salvador?
Enquanto a ouvia.
Contei umas quantas vezes a ouvia, concluía. Nem sei o que é ser velho, isto pensando. Imaginava-me.
Há anos, pensava que a velhice era sinónimo disso, andava enganado, ninguém é velho e nem duvides, falava para mim, claro, velha é a floresta e nem por isso morreu, a minha mãe com tanta idade e nem por isso velha, a minha rua também e nem por isso pensa assim.
– Andas cansado.
– Eu?
– Sim, tu.
– Nem penses!
– Bolas, olho e vejo.
– Vês tão mal!
– Sei melhor que tu Salvador.
– Sobre o quê?
– Nem óculos usam ainda!
– Nem eu.
– Mas deves ir ao oftalmologista.
– Fazer o quê?
– Conselho meu.
– A médicos deixei de ir Libéria, desde que entrei na floresta.
– Não entendo.
– Desde que vivo aqui, sinto que a vista não me faz falta.
– … Podes explicar-me? ainda não percebi essa ideia.
– Desde que adormeci sozinho, nestas costas de árvores que como eu, não precisam de olhos, percebi que nem sempre se é cego mesmo nada vendo, aqui, percebes? os olhos mesmo que bem abertos, içados, não conseguem ver melhor que os olhos do cérebro.
– Gostas de conselhos?
– Até gosto.
– Mas não dou.
– Estás zangado?
– Não. Já não me zango.
– Então zangavas-te.
– Isso é passado.
– Tu, que tanto regressas ao passado, tens coragem de me afastar do passado? O passado, sabes? nem sempre é passado, tantas vezes é presente, e creio mesmo que é parte integrante do momento, digo isso quando tantas vezes sonho e deparo com coisas que há tantos anos me incomodavam, salto da cama, reviro os olhos, e o que vejo? o passado a castigar-me no presente.
– Então?
– Tive, um dia destes, um sonho, coisa horrível, há sonhos que parecem nossos pares do presente.
– Hum?
Começa o dia com um sol longínquo, raios que penetram ou perfuram o estendal omnívoro destas telhas de papel ou folhas vãs, senti o ruído incessante de vozes inócuas romperem a madrugada, assim como mentiras voláteis na lezíria.
A manhã esconde-se da vida, da minha vila assombrada nestas telhas. E diante de que tardes? de verniz imaginado, sono num bairro escabichado.
– Que te contaram de mim?
Se fosse eu o apóstolo desta nação inventada, de pontes falaciosas, nuvens estranhas nestas manhãs submersas, como dizia Virgílio, um sono meio tresmalhado de Gaia, das palavras avulsas que se espalham na tarde, saber sobreviver neste sono lento, onde o vento sobrevoa, dizia a cigana da sina, à minha porta, palavras e que me importa mais que isso? Entretanto sons ligeiros a sobrevoarem-me a consciência, aquele cheiro perdido nas tardes de terra e chapinhar na lama rude, os gritos sufocados pela vontade inconsciente e nadar sobre ela, remando os braços deste desejo vadio mergulhado na existência entretanto perdida, o ritmo frenético da verdade leva-nos, e nele vamos, tem de ser, não quem possa rejeitá-lo, acreditem, hoje, noventa e dois anos conta ele na sua amálgama de ossos doridos, a pele encarquilhada mas como um azulejo de arte, brilha sobre ela a distância desde os primeiros segundos de recordação e biblioteca viva de um velho de tanto saber e nada esconder, ainda assim, sentado, na velha cadeira de há anos, ouvia os sinos da igreja sempre à mesma hora e dizia:
– Está na hora menino, vou à missa.
Não se cruzam conversas. Escuta-se o tempo. Ouve-se a voz do vento, os gestos do silêncio quando ele se chega a nós, o riso dos mais velhos ensina-nos a saber rir, ensina-nos mesmo, garanto, aprendemos a esquecer que o tempo desgasta, aprendemos também a rir, a enriquecer os restos de tardes numa varanda qualquer da cidade, desligar o rosto das amarguras e vigiar para dentro o que se diz, marcar a existência, experiencia, é ensinar a viver com a calma necessária de que a vida nos obriga, enchemos o corpo com palavras que nos preenchem com esse saber, ficamos a saber, aprender histórias esquecidas, o baú da vontade.
Não se cruzam palavras.
Luiz Pacheco, não fosse a tarde desaparecer tão rapidamente por trás dos óculos caducos e desdentado, numa mão de gestos enfurecidos e não outra um cigarro, o fogo já no filtro e os dedos queimados, falava, eu a ouvi-lo com os olhos e com os ouvidos e com atenção, quem sabe se rendido ou maldito, fazia-o quase inconscientemente num silêncio transparente num banco de madeira de que taberna em Lisboa o copo de tinto sobre a mesa e o empregado de um lado para outro, enquanto fala debruça-se e mostra-me um livro pequeno que mal vejo o título.
Nas vidraças lúgubres da tarde um riso de cheiro a vento a badalos sobre elas, numa repetida melodia de Mozart.
Distante, um cheiro silencioso em queda livre sobre as minhas ânsias adormecidas neste pardacento cinzento de fim de tarde, ou que mais, que talvez não me importe ao vê-las ali, dependuradas e a escorrerem num vazio de tédio talvez, ou no vidro da minha alma a escorrer também por dentro de mim numa ânsia animal de ver ferver no quarto um gesto que não haverá, onde, lúgubres, há também sorrisos, meus talvez, sem defeito ou a enfeitarem-se para horas tardias no despudor nu da vadiagem, sair e sorver do nada o resto que me encherá de musas sobre copos despidos de esfinges disfarçadas, sinto-me nelas a inventar o tempo, vidraças rupestres ou coisas raras a dilacerarem-me entretanto num sono perdido.
Renascem também ventos ora desaparecidos, por vezes cintilantes num bajular infrequente, sons refractários sobre a tarde, e nela, o meu olhar desprendido num vaivém sem regras.
Sons ímpios no alguidar vazio do meu desejo a adormecer-se vagarosamente, numa lentidão de bradar, diria, mas não, eu mesmo nele, num frenesim de ânsias tantas vezes nenhumas, como banhar-me sem réstias nesta casa ainda avulsa, ainda sem paredes e com dedos sobre mim a vacilarem-se sozinhas num empurra e chega para lá, sobre o que seria o meu descanso nos últimos dias da minha tão súbita existência.
Às tantas soberbo vejo relvas e sinto ao olhar-me despido sem que o quente desse teu sonho que sonho, revejo-me tantas vezes e durmo depois adormecendo saciado, foi por ti e contigo este delírio de abraços e o meu o êxtase por ti:
– Não consigo adormecer!
Enrolo-me neste vazio lá fora vazio nenhum, o lençol sem cor nenhuma, o meu abraço em mim, a ver se depois durmo.
Grande é o sonho que ostento. Ao fundo paredes e vozes dos vizinhos para além, o vento que empurra as cortinas, as minhas costas cansadas:
– Sinto fome!
A emagrecer Maria, o elevador sobe e desce num frenesim que me deixa sem nervos, ligo a televisão para ver nada, preciso daquele abraço da Licínia que a fatalidade levou, quando ela me dizia, tantas vezes:
– Que saudades Licínia!
Logo o meu sarau no gimnodesportivo. Não fui a sarau nenhum, recordo a última mensagem que me enviara, li, reli, nunca mais a vi. A última vez que a vi, levava nas mãos um livro azul assinado pelo autor e ela vaidosa a doze, subia a estrada:
– Olá Sidónio!
Distraída e com dores soube mais tarde, um bicho navegava já pelo seu corpo e a levá-la, nunca me confessou estar a passar tão mal, nem se de fome, ou se de sede, nada simplesmente e calada quase sempre:
– Escrevi a minha biografia, vou querer a tua opinião.
Naquela esplanada horrenda onde um dia a foto estampada num vidro,
– Aos amigos e conhecidos, à sua memória.
A Rosa aparece e pede-me para se sentar a meu lado obviamente aceitei, acende um cigarro, na sua calma trivial, gorda, muito cheia:
– Já sabes?
Pede um café enquanto as lágrimas parecem o Tejo descendo-lhe a cara, o café chega, o seu rosto parece morto, mexe o açúcar misturando-o na chávena, um cigarro depois entre palavras meio vazias:
– Ia começar hoje a quimioterapia!
À nossa volta o vento zurzia embalando as árvores raras daquela rua, subiam e desciam carros nem sei se felizes, a voz dela calara-se entretanto. Levanta-se e desaparece nas trevas daquele dia enferrujado e melancólico, grande, só o sonho, enorme enquanto a bailarina segundo me dizia ela, a Licínia:
– Espero ter lá todos os meus amigos.
Que tacos do chão ou o vento das tardes, solidão acredito, ninguém se sente sem solidão. Dizem que a solidão anima e faz crescer de novo, dizem que faz mal e a gente assim, fechados nos escombros regressa e tudo traz saudades, recordo-te então se deixares sei, isso sei, depois de ver a foto na vitrina do café a tua morte por que razão?
As manhãs frias enchem-me as nevralgias avulsas como quem escuta um caminho, e seria em Março esse abraço de vícios na torrente fria dos rios, espero-te no fim desse dia encostado ao tempo, a ouvir reflexos perdidos num vidro de água que me trás a ânsias por ti.
– Já não me incomoda não quereres que saiba de ti!
Os silêncios crescem devagar, os risos desaparecem de encontro às paredes, pelas frinchas das portas desta casa tão antiga como a minha vontade, não me incomoda, e nem o sono fica. Qualquer dia, nem comer me apetece, ou melhor, vontade nenhuma de mim, já não me incomoda nada o que quer que seja desta casa, a tua ausência, e essa indiferença tão fria como os túmulos do antigo Egipto, ou que ninguém me queira a partir deste dia, nem me sinto isolado, há trevas e vento, o ruído da rua, espreito ainda à janela para ver fluir a tarde, o desdém pelos caminhos, os passeios repletos de almas vazias, penso eu, nesse exacto momento, mas pouco me importa se assim for, e de ti, nem me importo que nem apareças mais, nem vás nesses passeios onde tantos vagueiam, ou que me visites, uma palavra afastada:
– Olá! Ou que de vez em quando venhas saber dos destinos, das minhas doenças e dores, ou que apenas me perguntes:
– Tudo bem contigo?
Imagino que a ti nem a minha morte preocupa, incomoda nada teres de me enterrar um dia.
– Mas que chatice se isso tiver de ser! E passo sede, os lábios gretados de ausência, se bebo ou se como que importa? o que sei é que já não sinto a tua falta. A bem dizer, quem me faz falta?
Pergunto:
Sinto apenas o efeito da solidão que nem marcas de saudade, a minha alma descansa bem sozinha dentro deste peito cansado.
Quando era pequeno (a praia mesmo ali, bastava descer uns degraus nem sei quantos) saltava na sala contente:
– Mãe, vou parar à praia!
E ela nada. E eram uns quantos quilómetros que nós, juntos, corríamos com uma bola nas mãos e íamos, um grupo de que hoje nem sei, fosco nem me importa, o Michael e o irmão, detestava era o que o pai dele vazia, dono de uma frota de camiões que ocupava a rua toda e nem jogar a bola a malta conseguia e não havia solução:
– Se tocam no camião, meninos.
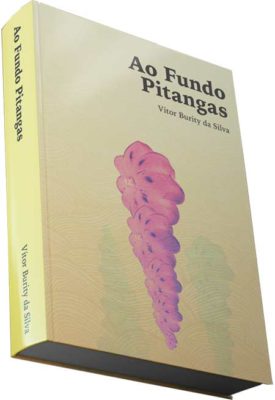 Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas
Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas




