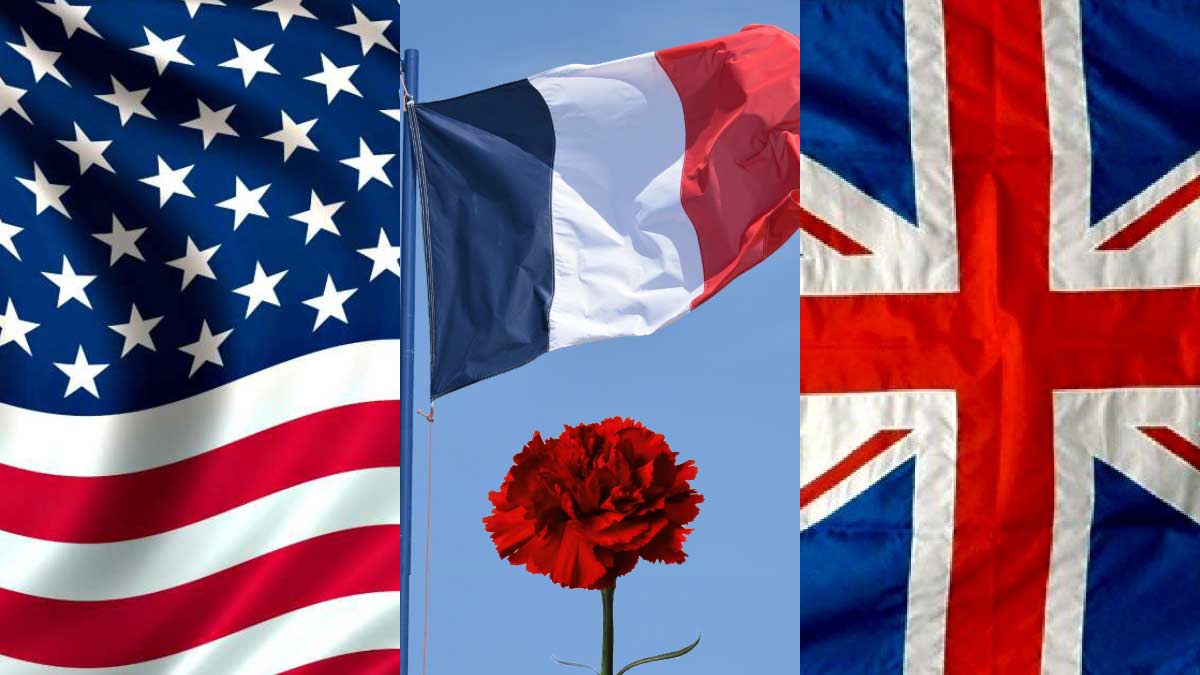No quadragésimo quinto aniversário do 25 de Abril
Defendi já há um ano, por ocasião da celebração do aniversário do 25 de Abril, que a melhor maneira que temos de o celebrar é pensar em como reformar as instituições demo-aristocráticas portuguesas que, a caminho do meio século de idade, dão claros sinais de corrosão.
Introdução
Um ano depois, o desafio parece-me ainda mais premente. A primeira ideia a ter em conta é que a grande mola propulsora do 25 de Abril foi o exemplo externo, seja o das utopias comunistas, seja o da ‘Europa connosco’ de Mário Soares que acabou por triunfar. Força é reconhecer por isso, que o maior problema que se levanta a qualquer reforma doméstica nos tempos de hoje é a de os ‘faróis’ que a deveriam iluminar estarem eles mesmos em crise, tornando por isso duvidosa a cura potencial para os nossos males que poderia resultar da aplicação mecânica das soluções que parecem ter deixado de funcionar noutras paragens.
Penso que o essencial é ver nos clássicos pontos de referência o que continua a merecer ser ponto de referência e aquilo que devemos evitar por ser ele mesmo fautor da crise.
1. A crise americana
A primeira e mais importante crise é a americana, país onde primeiro renasceu a democracia no mundo contemporâneo. Como sabemos, a democracia americana, para além de se ter erguido em território conquistado submetendo os povos invadidos (o que mais ou menos precocemente se passou com virtualmente todas as realidades humanas) sofreu de um pecado original que foi o da escravatura, pecado que só tardiamente foi formalmente ultrapassado e cujas sequelas – sob a forma de discriminação legal – se arrastaram até aos nossos dias.
Como forma de expiar o pecado, a democracia americana enveredou pelos caminhos chamados de ‘acção afirmativa’ em que se reimpôs a discriminação, dando-lhe agora um sentido positivo, com o objectivo de compensar o negativo do passado. Das heranças ameríndias, hispânicas e africanas o sistema passou à universalização da ‘acção afirmativa’ por todos os motivos e mais alguns; à raça juntou-se a religião, depois o sexo, depois a orientação sexual, depois as crenças ou opiniões sobre o que quer que seja que se passe no mundo, das mais vulgares às mais exóticas conspirações, que vão do clima, à planura da terra passando pelas tradicionais conspirações judaico-plutocráticas.
A expiação foi complementada com um recrudescente sentimento de culpa e de herança étnico-cultural para uns, ou mesmo com o delírio étnico para outros, com uma candidata presidencial a inventar ascendência índia para aligeirar a carga do pecado de ser ‘branca’.
E assim a América do ‘melting pot’, da oportunidade para todos, da cidadania, do respeito pela diferença e da liberdade de opinião está a tornar-se cada vez mais num manicómio de identidades assumidas ou expiadas que se tribalizam e odeiam os que nelas não se reconhecem. É absolutamente impressionante o nível de rancor que se pode constatar nas redes sociais vindo da parte de todos os quadrantes contra quase todos os outros quadrantes.
Esta subcultura americana invadiu o resto do Ocidente, começando naturalmente pelo Reino Unido, e alastra pelo mundo inteiro destruindo a imagem americana e propagando lógicas paranoicas.
A liberdade americana tornou-se em permissividade para com os inimigos da liberdade; o controlo e restrição à utilização do dinheiro na perversão do processo democrático foram limitados aos mínimos. Por exemplo, o Qatar e outros centros financeiros do jihadismo subvencionam a desinformação, manipulação e a incultura nas universidades, na imprensa, na sociedade e na política sem que ninguém lhe ouse fazer face, exactamente pelo dinheiro que representa.
O que creio ser necessário ter em conta é que a América não é só nem fundamentalmente isso, continua a ser de muitos pontos de vista a terra da cidadania, pelo que há que evitar copiar o pior do que por lá se passa, como por exemplo, a inqualificável ideia de introduzir nos censos 2021 critérios étnicos, e olhar antes para os menos falados mas muito mais importantes mecanismos democráticos de equilíbrio controlo e força da sociedade civil que continuam a ser exemplo a ter em conta.
2. A crise francesa
A democracia americana – tributária da cultura aristocrática britânica no plano dos direitos – entrou na Europa pela porta francesa, revolucionária e facciosamente, e com múltiplos avanços e recuos.
Apesar da revolução, ou talvez por causa dela, a democracia francesa permaneceu sempre prisioneira de uma realidade aristocrática – a elite dos ministros continua a confundir-se com a das grandes escolas, por exemplo – e de uma lógica de revolução permanente em que a barricada continua a ser o método preferencial de manifestar opiniões.
Há dois anos, os franceses resolveram implodir o seu sistema partidário e, nas eleições presidenciais, depois de terem colocado quatro candidatos a curtíssima distância relativa, escolheram o seu Presidente – talvez o mais elitista de que há memória – pela rejeição da candidata da Frente Nacional.
E o que era apenas um mau estar endémico tornou-se um mau estar permanente com a eclosão do movimento dos coletes amarelos que levou as tradicionais lógicas de barricada a novos extremos e se tornou o principal actor político durante meses a fio, expondo os mecanismos tradicionais da democracia francesa como ineficazes e desacreditados.
O Presidente francês conseguiu por ora suster o descontentamento com uma resposta calibrada entre a cedência às mais imediatas reivindicações políticas e a sucessão de reuniões cidadãs espalhadas pelo país inteiro, verdadeiras provas de força a que ele conseguiu resistir, conseguindo evitar ceder nos domínios estruturais, o referendo ou o sistema fiscal.
O que o movimento dos coletes amarelos demonstrou à saciedade é que os franceses não se sentem convenientemente representados pelo seu sistema político e que as reformas adiadas não são por isso menos necessárias.
Há todas as razões para que em Portugal se entenda o que há de essencial na mensagem dos franceses: a necessidade de revitalizar os sistemas de controlo e equilíbrio da democracia, através do referendo e não só, e a reforma do imposto que é o mecanismo maior de desigualdade e discriminação.
3. A crise britânica
Nenhum sistema democrático é imune à demagogia, mas o que eu penso que o Reino Unido nos está a demonstrar é que um sistema democrático baseado mais na tradição e no espírito do que na letra das leis, corre o sério risco de ser insustentável.
A promessa eleitoral passada à prática de referendar algo que não se tinha a mínima intenção de pôr em prática, e que na verdade é apenas uma ideia abstracta que tem muitas formas de se tornar concreta, num sistema com uma maior separação de poderes e clara definição de regras do que o que se tem no Reino Unido, provavelmente, nunca seria levada à prática.
Mas a monarquia britânica, sendo democrática, não é constitucional, sendo que a Coroa se tornou um elemento puramente alegórico sem qualquer capacidade de limitar os efeitos dos eventuais disparates dos eleitos.
Acresce ainda a esse facto que o executivo depende inteiramente da confiança da câmara (faz mesmo obrigatoriamente parte da câmara) e que portanto corre o risco de não ter em relação a ela qualquer margem de manobra, o que pode tornar o país ingovernável se, como é o caso, não houver maioria absoluta de qualquer partido e, pior ainda, se o principal partido estiver totalmente fraccionado; e o Partido Conservador britânico parece mais uma guerra civil do que um partido.
O Reino Unido acabou assim de provar que as tradições liberais e democráticas são necessárias e fundamentais, e são frequentemente muito mais importantes do que as mais esmeradas produções literárias nas artes democráticas sem qualquer aderência à realidade, mas sendo fundamentais, não são suficientes.
O Reino Unido precisa de regras escritas claras – e não apenas tradições e boas maneiras – que limitem a capacidade dos eleitos para disparatar, e precisa também de poderes moderadores que a coroa notoriamente já não está em condições de exercer. Ou seja, precisa de uma Constituição e um Tribunal Constitucional, ou a atribuição de poderes de fiscalização constitucional a uma magistratura já existente, que possam obviar a que se produzam equívocos da dimensão do que está a destruir a normalidade democrática britânica.
Neste debate sobre o BREXIT penso ser necessário distinguir o trigo do joio. Não sou contra o referendo, pelo contrário, sou-lhe plenamente favorável, mas há que cuidar que se não referendem absurdos ou ideias abstractas. A democracia parlamentar é um bem essencial, mas há casos em que ela atinge os seus limites e que se torna necessária a intervenção de um poder moderador.
A tradição e a cultura democráticas são mais importantes do que todas as leis que se possam inventar; mais, a infindável proliferação legislativa contemporânea é pura poluição sem qualquer valor acrescentado, posto isto, uma Constituição, um conjunto de regras um pouco mais explícitas e adaptadas ao nosso quotidiano do que a ‘Magna Carta’ parece-me importante.
Conclusão
De tudo isto concluo que nos deficientes faróis da democracia contemporânea onde muito há a reparar, há no entanto mais ainda que continua a ser essencial. O desafio que se nos abre é o de ter a capacidade e inteligência de entender aquilo pelo que não nos devemos guiar – porque precisa de ser reparado – e aquilo que permanece como marco que deve orientar as reformas de que necessitamos e não fazer o inverso, como por vezes parece ser a tentação das nossas elites.