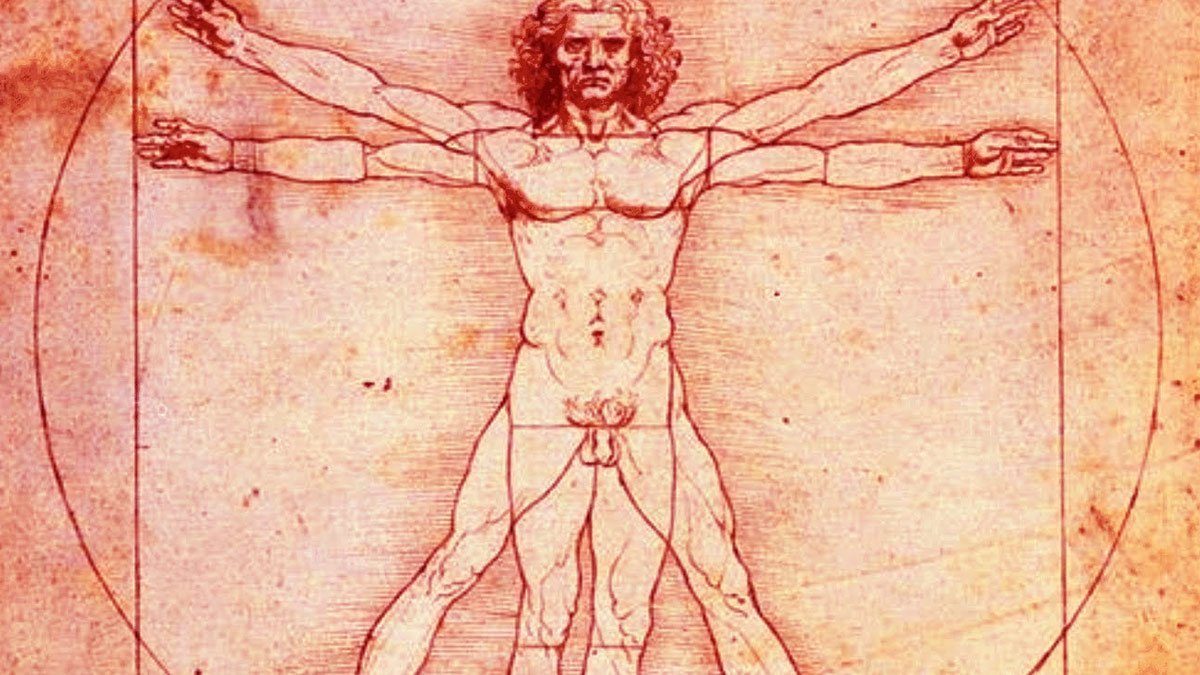DO AVESSO
Uma viagem ao Sri Lanka
Bernard-Henry Levy disse[1] que “é sempre em benefício próprio que se entra na ambiguidade”. Pois façamo-lo.
Para quem se pontuou sempre pelos caminhos da cultura ocidental e nesta, academicamente, nas leituras filosóficas modernas e contemporâneas, em especial as que surgiram (e lhe sucederam) no Iluminismo, o desafio é do criar um método interpretativo – o da distância (face aos preconceitos culturais sedimentados) e uma metodologia operatória capaz de uma interpretação.
Em primeiro lugar, a tarefa parece facilitada pela circunscrição feita pela análise de um texto de fôlego, o livro Buddhist Sociology[2] – que é aqui não só o nosso objeto de análise como o principal corpus teórico de interpretação. Acresce que o autor do mesmo é o cingalês Nandasena Ratnapala, o que nos motiva: tivemos a possibilidade de estar mais do que uma vez no Sri Lanka e de entender (de uma forma suave e sempre muito rudimentar) algumas das coisas que se explanam nesta obra.
Nas primeiras páginas[3], Ratnapala alerta que “A íntima conexão entre a tradição Budista e o espírito do pensamento Budista pode ser entendida apenas dando atenção às linguagens originais em que cada pensamento nasceu.” E acrescenta o que mais se (nos) tornou evidente na leitura da obra: que “os ensinamentos budistas, de acordo com a minha experiência são mais bem compreendidos e postos em prática a partir de um ponto de vista antropológico e sociológico. Até agora, nenhuma tentativa séria de olhar para o pensamento budista, de um ponto de vista tão completa como essa havia sido realizada.
Os sociólogos da época de Max Weber fizeram excursões superficiais para o domínio do pensamento budista. A maioria deles tinham utilizado traduções de textos budistas para analisar o pensamento budista. O resultado foi uma deturpação grosseira e distorção das ideias budistas. A conexão entre a tradição Budista e o espírito do pensamento Budista pode ser entendida apenas dando atenção às linguagens originais em que cada pensamento nasceu.“
Leitura da obra
Comecemos, para a leitura da obra, por duas aquisições: o que nos ressalta do que lemos; o que o Sri Lanka nos trouxe como ensinamento.
A utilização do termo crença ocorre-nos como cómoda, mas sempre filosoficamente imprecisa. Ela é o que o indivíduo estabelece como seu imperativo – e cientificamente obriga-nos a procurar uma forma hermenêutica – no sentido primeiro do termo, isto é, de tradução -, que o torne inteligível. Para o homem ocidental, a sua cultura é a tradução evolutiva de uma crença, muito mais no que tem de narratologia, de filológica, de essencial no encontro afetivo do que naquilo que possa ter de provável.
Se atentarmos no que ficou escrito, ao longo dos últimos milénios, o esforço analítico é o de descortinar a concordância de sentido dos muitos registos da crença. Para nós, a ocidente, a cultura é esse reflexo do pensamento semita, veiculado pela Bíblia, com o pensamento grego-romano tardio (onde o cristianismo exerceu o seu proselitismo), que chegou a ser dominante numa parte muito considerável do mundo. Esta tarefa de conciliação intelectual, protagonizou-a Agostinho, na esteira das especulações abertas de Orígenes, Clemente e Fílon de Alexandria.
E assim, a crença é um sedimento, sob o ponto de vista cultural, sedimento de muitos sentidos, literal, histórico, tropológico ou moral, alegórico, anagógico ou espiritual. O que hoje vemos é herança maior do que foi estabelecido na Idade Média e no Renascimento (já vemos essas ideias no De Trinitate e no De Doctrina Christiana) e chega-nos como uma tendência longa de memórias, cuja estrutura, mais próxima de nós, será alvo de uma quase revolução em Heidegger – a hermenêutica deixa de situar-se ao nível ontológico e passa ao nível ontológico.
Modernidade e Contemporaneidade
No Ocidente, a ideia de Deus, abalada pela Revolução Americana e pela Revolução Francesa, onde o Homem passa a ser dono do seu destino e o Cidadão não é produto de uma transcendência mas do que resulta de si e dos seus atos, é o zénite da ideia de crença na passagem da Modernidade para a Contemporaneidade. A dicotomia entre consciência e verdade resulta, todavia, com o evoluir da modernidade, nos traços mais violentos de uma nova forma do ser humano acreditar – ou desacreditar – de si.
Assim, o ser entende que é dependente, sempre de outro ser, que existe ou já existiu, mas que é um seu semelhante. Mais: que sendo imperioso que seja, isto é, que deixe de ser dependente de outro, tão dependente como ele, não pode ser, nem deve ser dependente. E finalmente, ao tornar-se independente é auto-existente – e nisso a sua crença inabalável estremece a ponto de ruir.
Rimbaud vem dizer-nos “Je est um autre”, o que a psicanálise, ou a filosofia, de Nietstzche a Heidegger vem confirmar conceptualmente, parecendo aos olhos dos homens que a nova teofania é a existência do Homem perante si e no confronto ideal com o outro – abandonando aos poucos a ideia do Deus Homem para procurar um Homem Deus no indivíduo, crente da crença em si e autossuficiente perante as suas dúvidas.
Ilusões do humanismo clássico
Foucault (como Derrida, Althusser, Barthes ou Lacan) contribui para o desmascarar das ilusões do humanismo clássico – lançando desafios a uma nova crença. Sartre há de contrapor com a ideia do Existencialismo – como um Humanismo (todavia não cristão, como o definiu Kieerkgaard, claro).
A modernidade impõe o Sujeito. Três tópicos podiam então ser confrontados: o criacionismo, com a resposta assente em mistérios transcendentes; o marxismo, com a resposta assente em realidades evidentes; o evolucionismo, com a resposta latente no encaixe rigoroso que, de um ponto de origem chegaria a nós, levando-nos onde a nossa capacidade genética for capaz de nos guindar. Depois de Marx, de Darwin, de Freud, de Nietzsche ou de Heidegger é impossível voltar à ideia do Homem como mestre e possuidor da totalidade das suas ideias e das suas ações, não pelo que sofre de subjetivismo ou de transcendente, não do que na crença se limita, mas porque a sua tradução como sujeito lhe impõe a emancipação que nunca encontrará no coletivo.
[1] Algures numa das 700 páginas do seu O Século de Sartre, Quetzal Editores, Lisboa 2002, que aqui se cita de cor
[2] RATNAPALA, Nandasena,Buddhist Sociology, Bibliotheca Indo-Buddhica Series No. 117, First edition. Noca Delhi, India, 1993
[3] RATNAPALA, Nandasena,op cit introdução p. viii
Por opção do autor, este artigo respeita o AO90