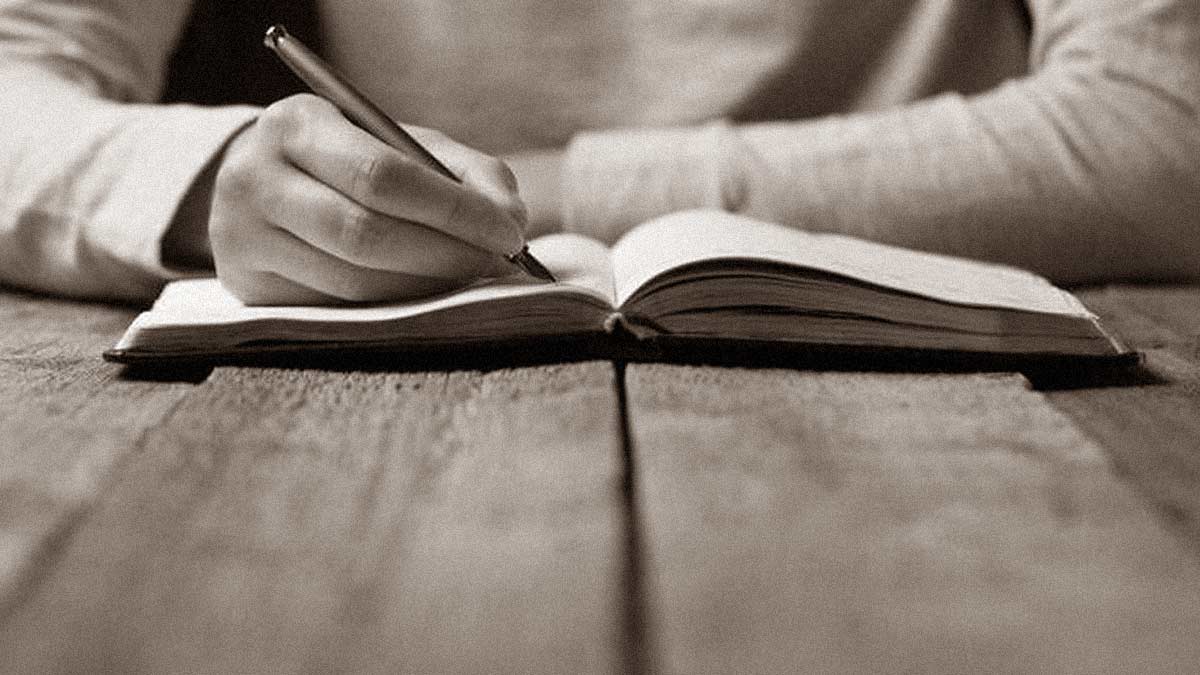Inverno de 1973. Prisões no meio estudantil, incluindo a do meu primeiro controleiro, que me tinha recrutado para os Comités de Luta Anticolonial (CLACs), levaram-me por precaução a deixar a capital e ir viver para a Marinha Grande.
O projecto era ambicioso: ia viver como operário, criar CLACs nas fábricas. E nos meus devaneios juvenis, via-me já a liderar outro Soviete da Marinha Grande, como o 1934!
Mas nas fábricas de vidro só admitiam, e poucos, filhos de vidreiros. E eu precisava de não parecer um estudante, coisa muito mais difícil do que se me afigurara. Para tal, fui primeiro para as obras, como servente de pedreiro. Depois consegui trabalho na vizinha Leiria, nos plásticos. Por turnos.
Sempre que fazia o das quatro à meia-noite, semana sim, semana não, apenas tinha camionete para o regresso a casa por volta das nove da manhã. Toda uma noite para preencher na cidade adormecida.
Por vezes, percorria-a pé e os seus arredores, dos Parceiros aos Marrazes, à estação; colava autocolantes, os “selos”, nas paragens de autocarro, deixava panfletos debaixo de automóveis estacionados, uma pedrinha em cima, para que só fossem descobertos muito depois de eu por lá ter passado. Evitava a regularidade, a rotina, ciente de que, na calada da noite, com as ruas vazias, era demasiado fácil ser detectado e caçado, como já tinha acontecido a outros.
Comecei por ficar umas horas na fábrica, a fazer tempo. Não dava para conversar com os camaradas: a máquina de cada um exigia atenção plena, caso contrário a máquina começava a estragar as peças, ou levava-lhe dedo, mão até.
Havia a casa do compressor, onde podia dormir quentinho sobre a “palha” de plástico. Mas tinha medo, não era raro explodirem, era muito barulhento e a “palha” de plástico fazia-me comichão insuportável.
Experimentei deitar-me no mato, escondido dos olhares, e tentar dormir. Mas o frio que remanescia da terra penetrava cortante pelo capote, pelas camisolas, pela carne, chegava aos ossos, e pouco tempo depois só me restava ir para o café das bombas de gasolina, que estava aberto durante toda a noite.
Uma bica, um rissol, a um canto ocupava o tempo a escrever. Panfletos que depois haveria talvez de bater à máquina, imprimir na maquineta, o copiador artesanal que eu mesmo tinha fabricado. Ou poemas – textos empolgados, abundantemente adjectivados, recheados de metáforas e imagens, que há muito destruí.
Aí pelas três, quatro da madrugada, quando cabeceava com sono, chegavam em vários carros sete ou oito clientes, sempre os mesmos. Com histórias de grandeza imaginária, à portuguesa, a tentar impressionar ouvintes, mas sobretudo com fados.
Ali ficávamos, o dono do café atrás do balcão, eu a escrevinhar, os fadistas a animarem a noite. Tinham jeito. Tinham garra. E desconfiavam de mim, naquele tempo de suspeitas generalizadas: que fazia eu ali àquelas horas, quando todos os outros dormiam? Nunca mo perguntaram. Mas pressentia a desconfiança nos seus olhares.
Até que um dia, logo após o 25 de Abril, um dos calmeirões me questionou como se falasse para o grupo: quem era aquele gajo, sempre ali ao canto, a ouvir e tirar notas?
Ah, não! Tudo podia ser – menos bufo! E puxei dos galões. Era dirigente da Comissão de Trabalhadores, do Comité Operário dos Plásticos, este clandestino. Dei-lhes a ler o que escrevia, algum apelo aos camaradas operários para que se levantassem contra a exploração capitalista. Calei-os. Mas creio que, mesmo hoje, quase meio século depois, ainda haja quem me olhe com desconfiança nos cafés onde, a um canto, escrevo…

Receba a nossa newsletter
Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a Newsletter do Jornal Tornado. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.