Há que ver a Ásia do Sul como um palco inaceitável para medir forças e ensaiar confrontos. Na nossa era global, todo o confronto mesmo que particular adquire rapidamente um carácter geral. E isso é especialmente assim quando o conflito é potencialmente nuclear.
A Ásia do Sul – em qualquer formato em que seja definida – é a região mais habitada do mundo e pode mesmo ser vista como o seu centro (modelo gravitacional usado em ciência regional), mas a sua importância tem sido subalternizada, nomeadamente pela Europa, e isto desde os tempos em que as forças de Alexandre Magno descobriram no subcontinente formas de governo demo-aristocráticas que elas pensavam ser exclusivas da Grécia.

1. O drama da partição
Durante quase dois séculos, a região foi o centro do Império Britânico, que integrou a maior parte do território na sua administração e manteve com vários reinos e principados da região relações de maior ou menor domínio. Começou a conceder ou reconhecer autonomias territoriais ou independências a partir da primeira guerra mundial, com a emergência do Nepal, Butão, Ceilão e Birmânia (este último não está hoje integrado no clube regional da Ásia do Sul, mas sim no Clube regional da Ásia do Sudeste) e culminando com a partição da Índia de 1947 (as Maldivas mantiveram o estatuto de protectorado até 1965).
O Império Britânico ficou limitado a Noroeste pelo que é hoje o Afeganistão, de que os britânicos submeteram apenas parte do território habitado pelos Pashtun (etnia que é a maior e mais central no Afeganistão, mesmo nas fronteiras actuais) e criando a ‘linha Durand’ que continua hoje a ser a linha de demarcação não reconhecida como fronteira entre Afeganistão e Paquistão e fonte de várias guerras.
O essencial da antiga Índia Britânica acabou por ser separada numa parte maioritariamente muçulmana e outra não muçulmana em 1947, num dos mais bárbaros e mortíferos processos do século e que está hoje à beira de desencadear um holocausto nuclear.
A lógica do suprematismo religioso – que dita a submissão dos povos a uma religião tida por superior às restantes e que culmina com a conversão forçada, a expulsão ou o genocídio – tem sido historicamente praticada em inúmeras circunstâncias (em Portugal por exemplo, como sabemos), mas observou um renascimento moderno centrado no Islão nos territórios colonizados pelo Reino Unido (tanto no mundo árabe como na Ásia do Sul).
Foi um movimento que o Reino Unido apadrinhou e utilizou em variadíssimas circunstâncias, tanto como forma de minar os movimentos nacionalistas e laicos como enquanto instrumento de combate geopolítico; nos nossos dias, creio que independente de qualquer estratégia racional, mas fruto de mera inércia ideológica.
Em 1919 desenvolve-se o movimento do Califado na Índia Britânica em torno da reivindicação da transferência do moribundo Califado da Turquia para a Índia britânica. A partir desse movimento, vão desenvolver-se as várias tendências islamitas (incluindo o islamo-secularismo do seu fundador, visão intrinsecamente contraditória que não vai durar muito tempo) das quais vai nascer o Paquistão (neologismo criado nos anos 30 formado a partir das iniciais e terminação das suas principais componentes territoriais – Punjab, Afegânia, Kashmir, Sindh e Baluquistão – também dado como tendo origem no termo iraniano herdado pela língua Urdu, ‘Pak’, que quer dizer ‘puro’)
O apadrinhamento do Islão na Índia britânica vai tornar-se ainda mais óbvio na segunda guerra, com um maior alinhamento das populações muçulmanas com o colonizador britânico e um distanciamento ou mesmo passagem para o outro lado das populações não muçulmanas.

A título de exemplo, o confronto entre as duas principais etnias no Norte do Estado do Arakan, na Birmânia, que teve desenvolvimentos recentes com a perseguição dos Rohingya, teve um momento alto na segunda guerra mundial, com a população de etnia bengali (e esmagadoramente muçulmana) a tomar partido pelo Reino Unido e a de etnias tibetanas (maioritariamente budistas) a tomar partido pelo Japão.
O apadrinhamento ideológico da lógica islamita pelo Reino Unido vai conhecer um novo impulso com o desencadear da guerra fria, imediatamente após o fim da segunda guerra. Na nova doutrina de contenção, a constituição de um Estado tampão muçulmano (Paquistão) iria impedir a junção da União Soviética a uma Índia dirigida por Gandhi, na altura suspeito de cripto comunismo.
A separação da Índia Britânica entre a União Indiana e Paquistão tornou-se fonte incessante de conflitos, potenciados pelos interesses e manobras das principais potências internacionais.
Os EUA herdaram a lógica estratégica britânica e consideraram o Paquistão como seu aliado natural nas guerras e disputas que este manteve quer com a Índia quer com o Afeganistão. Isso foi assim mesmo a ponto de os EUA terem apadrinhado o genocídio paquistanês feito em nome do Islão contra a população bengali do que é hoje o Bangladesh.
Os bengalis – maioritariamente muçulmanos – tinham cometido o ‘crime’ de julgar a sua língua e cultura como mais importantes do que o ‘Islão’, entretanto nacionalizado como mito fundador da invenção paquistanesa em torno da língua Urdu; e foram por isso alvo de uma política de genocídio das suas elites e minorias religiosas. Esta foi uma das várias guerras em que se envolveram a Índia e o Paquistão, com o primeiro a apoiar a independência do Bangladesh.
Outro dos genocídios apoiado pelo Ocidente com a mesma lógica é o que continua a desenvolver-se nos nossos dias no Baluquistão, território espalhado entre o Paquistão, o Afeganistão e o Irão.
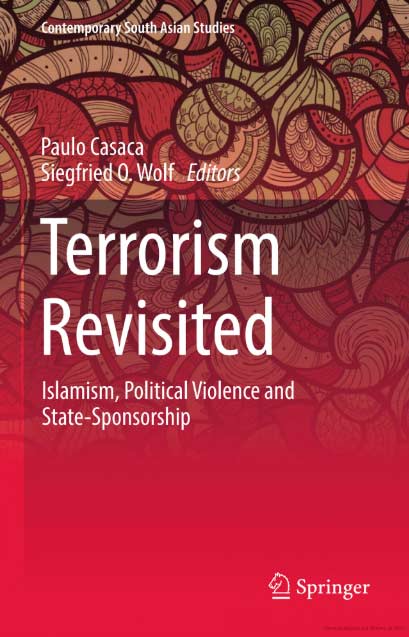
O Paquistão, país mais pequeno do que a Índia, inflectiu a sua estratégia para a chamada guerra assimétrica, criando, estimulando ou apadrinhando a formação de grupos terroristas no seu território para conduzir a guerra no território dos seus vizinhos. É uma tácita que partilha com o seu rival/aliado iraniano constituindo mesmo o exemplo internacional mais claro de ‘terrorismo de Estado’.
Neste quadro geopolítico há a acrescentar o papel crescente da China. Império emergente e expansionista, a China tem sistematicamente provocado conflitos territoriais com todos os seus vizinhos e apostado na sua fragmentação, tendo por isso apoiado o Paquistão e continuado a ser o seu principal aliado internacional, nomeadamente nas suas disputas com a Índia.
Uma das várias áreas de confronto entre as duas entidades políticas foi a do antigo principado de ‘Jammu e Cachemira’ principado em que o poder era Hindu e a população étnica e religiosamente multifacetada, maioritariamente muçulmana.
Na altura da partição, o soberano optou pela adesão à União Indiana, mas o Paquistão não reconheceu essa decisão e ocupou grande parte do território, nomeadamente uma parte tibetana compreendendo o que se chama hoje o ‘Gilgit-Baltistão’ e uma parte montanhosa cedida à China e uma outra parte do Cachemira a que chama de ‘Azad Kashmir’ (Azad em persa e urdu quer dizer livre). Na parte sob administração indiana ficou também um território tibetano, o Ladakh, uma parte maioritariamente hindu, o Jammu, e o vale do Cachemira, maioritariamente muçulmano e de onde entretanto a população não muçulmana foi alvo de limpeza étnica
É no Vale do Cachemira que o Paquistão tem alimentado uma Jihad que está por trás da presente guerra.
2. Da escalada do confronto…
Um ataque com veículo suicida no distrito de Pulwama no Vale do Cachemira, perpetrado no dia 14 de Fevereiro e reivindicado pelo grupo jihadista Jaish-e-Mohammed, com base em território administrado pelo Paquistão, causou quarenta vítimas e levou as autoridades indianas a prometer retaliação.
A retaliação dá-se sob a forma de ataque aéreo indiano a bases do grupo jihadista – em que pelo menos um avião indiano é abatido, com o piloto indiano capturado e exibido publicamente – e leva à contrarretaliação pelo Paquistão sob a forma de intensos bombardeamentos fronteiriços e ataques aéreos.
A Índia e o Paquistão são hoje potências nucleares, sendo que nos últimos anos o Paquistão desenvolveu publicamente uma doutrina de armamento nuclear táctico, o que se traduz pela perspectiva de utilização de armas nucleares em confrontos que seriam teoricamente limitados. Não é claro até que ponto é que esta doutrina publicamente anunciada se materializou já no terreno.

É difícil ou mesmo impossível de dizer o que se vai passar a seguir num confronto que a qualquer momento se pode tornar incontrolável. As várias potências internacionais têm feito os tradicionais apelos à calma, enquanto ambos os beligerantes se têm mostrado publicamente favoráveis à paz, mas creio que na melhor das hipóteses se está a adiar e não a resolver o que quer que seja nesta confrontação.
Grande parte da questão, tal como no passado, tem a ver com os interesses das grandes potências em presença. A Rússia e os EUA têm invertido – embora lentamente – o que foram as suas estratégias geopolíticas, com os EUA a dar-se muito lentamente conta da pesada factura que já pagou pela utilização do jihadismo na sua disputa com a Rússia e optando antes por se aliar à democracia indiana e não ao regime militar-islamita do Paquistão. A Rússia, como era de esperar, fez o percurso contrário.
A China continua a ser o grande apoio do Paquistão, embora seja potencialmente um dos principais alvos do jihadismo. Acaso o jihadismo ganhe as três grandes batalhas no cenário da Ásia do Sul em que está empenhado (Afeganistão, Bangladesh e Cachemira) penso que se irá naturalmente voltar para o Turquestão Oriental, território em que a China desenvolve uma impiedosa guerra de extirpação não só do jihadismo mas do Islão como marca étnico-religiosa.
Tal como aconteceu com a guerra do final do século XX no Afeganistão, em que o jihadismo rapidamente passou da guerra à União Soviética à guerra ao seu principal aliado, os EUA, creio que o mesmo poderá acontecer se este cenário se vier a materializar, tendo como alvo a China. A guerra interior ao jihadismo para saber quem o comanda e o instrumentaliza (perfilam-se nesse palco, o Irão, a Turquia e o Paquistão) não irá pôr em causa este cenário.
3. Por uma política que impulsione estrategicamente a paz
Independentemente dos interesses em jogo, creio que qualquer cenário de paz para a região só será possível na base de princípios, o primeiro dos quais é o do respeito por todas as realidades humanas em presença, incluindo as realidades nacionais e as identidades étnicas e religiosas.

A história não se pode reescrever, e o drama da partição não pode ser invertido, mas pode-se pelo menos impedir a continuação do processo. É absurdo pretender dividir ainda mais o antigo principado do Jammu e Cachemira de acordo com religiões dominantes, condescendendo com o fanatismo religioso e todo o seu cortejo de horrores, a começar pela limpeza étnica e a acabar na misoginia.
Não há razão nenhuma para que se proceda a nova partição da Índia com base em factores religiosos que, a ser feita, teria consequências mais graves ainda do que a que teve a de 1947. Não é possível confundir jihadismo com ‘libertação nacional’, a menos que se seja jihadista ou se faça parte do grupo dos idiotas úteis.
O Reino Unido deve ser claramente instado a cessar o seu apoio político, financeiro e diplomático ao jihadismo no Cachemira bem como a prolongada condescendência que tem com o jihadismo em todos os palcos, inclusivamente o nacional. A União Europeia e os EUA têm igualmente de se libertar dessa lógica absolutamente contrária aos direitos humanos, ao convívio das nações e aos seus interesses mais básicos.
Em segundo lugar, a comunidade internacional tem que rejeitar o terrorismo transfronteiriço como política internacional, mesmo como é o caso entre outros de países como o Paquistão, a utilização desse instrumento político seja hipocritamente escondido. A condescendência a esta prática pela comunidade internacional é a principal origem da presente crise.
Em terceiro lugar, há que ver a Ásia do Sul como um palco inaceitável para medir forças e ensaiar confrontos. Na nossa era global, todo o confronto mesmo que particular adquire rapidamente um carácter geral. E isso é especialmente assim quando o conflito é potencialmente nuclear.





