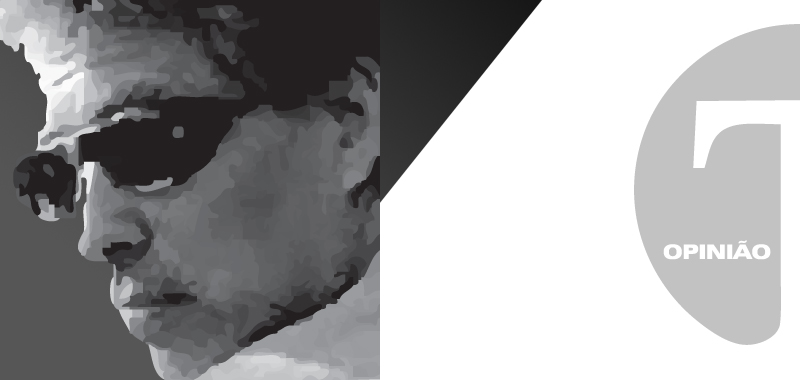Quando Claude Lévi-Strauss escreveu que… «há um período da civilização ocidental em que o pensamento mítico se enfraquece e desaparece, em favor da reflexão científica, de um lado, e da expressão romanesca, do outro. Essa cisão acontece no século XVII»[1] … parece fazer-se passar por historicista, mas o sentido desta afirmação decorre, simplesmente, da sua condição de melómano emergindo nas fronteiras do discurso, abandonando a eternidade pela queda na palavra e no seu poder criador. Como numa tela de Chagall… Naturalmente, defende-se das muitas críticas que lhe dirigiram nesse sentido, mas aqui o seu objectivo é, claramente, o de explicar para si próprio o desenvolvimento da “grande forma musical” – que para ele termina, aliás, com Stravinsky. Impensável, em todo o caso, reflectir sobre a música à margem da temporalidade, dos ritmos, dos ciclos, dos padrões… Sem diferentes vozes e melodias não há harmonia possível, apenas beleza, que é independente de qualquer ideia de harmonia. Se as Mythologiques são como sinfonias e se Luciano Berio inspirou a sua “Sinfonia” no trabalho de Lévi-Strauss, isso consubstancia o propósito da afirmação em causa.
Mas a ideia fora do contexto, considerada para além do objecto a que, no âmbito daquela entrevista se dirige, não só não seduz como, pior ainda, contradiz as próprias concepções estruturalistas no que se refere ao “l’esprit humain” e às suas vicissitudes. ‘Analógico’ e ‘digital’, como ‘natureza’ e ‘cultura’, não são apenas sedimentos dos binarismos opositores da ciência moderna (mitos fundadores legitimados por comunidades de prática) e da cesura imposta por um paradigma esgotado. São termos que se conjugam, complementam e coexistem, independentemente de, em determinados momentos e sob determinado ângulo, poderem mostrar-se pelo contraste da mudança, da sucessividade dos seus termos. Não há, portanto, precedência histórica nem ontológica de um termo sobre o outro. Ou então, consoante as questões que a pesquisa sempre impõe aos antropólogos, essa precedência, quando objectivada, parece ser parte da possibilidade de compreendermos de que modo se lida ora com a causalidade, ora com os recursos, nos mais variados terrenos de observação em que nos seja permitido actuar profissionalmente. Mas a reflexividade não é apenas essa maldição pós-moderna do espectáculo e do excesso do mesmo sobre si próprio. É também, como o próprio Lévi-Strauss e tantos outros sugeriram – e aqui entre nós o saudoso Professor José Carlos Gomes da Silva – uma circularidade criadora, sempre mutável e resiliente como qualquer circularidade viva, auto-organizada, autopoiética.
 O argumento de Lévi-Strauss, fora deste contexto e convertido em teleologia metafísica, foi explorado por Gilbert Durand e pela escola mitocrítica, afirmando o retrocesso e a perda de importância dos imaginários perante o avanço do racionalismo, com Descartes e a ciência moderna. É esta a concepção que impõe um “antes” e um “depois” e precisa nutrir-se de eventos fundadores plasmados na história das nações e dos seus símbolos. Que 1789 é, historicamente, um momento marcante, não parece haver dúvidas. Mas como é possível defender o refluxo dos imaginários quando a ciência é, num primeiro momento – e, é preciso não esquecer: em todo o esplendor da sua materialidade e das suas práticas – o acesso ao infinitamente grande e ao infinitamente pequeno e, logo, do desdobramento do olhar que introduz a profusão das imagens, das “outras” realidades invisíveis, próximas ou distantes? Com lentes diligentemente polidas e uma teoria da luz e da visão, os sonhos, as sensações e as pulsões ganham novos mundos. Diversos regimes escópicos alimentam a imensa dilatação dos imaginários através da reprodução de imagens e das sempre renovadas fronteiras do desconhecido, à medida que o conhecimento progride e se difunde. Como defender o retrocesso dos imaginários quando a Arte, a Cosmologia e a História Natural os exaltam? Desde as doutrinas de Deus como luz, do paganismo à escolástica e à mitologia dos espelhos ensinada por Borges, da lanterna mágica à Sétima Arte, de Cagliostro a Mesmer e Freud, não encontramos senão motivos para duvidar das teses da escola mitocrítica. O símbolo não é, como pretendia Eliade, epifania – aparição do indizível no e pelo significante. Quem precisar do “sagrado” encontrá-lo-á nos sítios do costume, mas o que de melhor trouxe a escola mitocrítica, para além da renovada atenção a Bachelard e a Cassirer, não foi a filosofia da história para uma teoria do “sagrado” e para uma metafísica do símbolo mas, antes, o saudável princípio do cosmopolitismo epistemológico dado na expressão que postula: “todas as hermenêuticas devem ser consideradas simultaneamente necessárias e insuficientes”. É no pluralismo que vale sempre a pena investir.
O argumento de Lévi-Strauss, fora deste contexto e convertido em teleologia metafísica, foi explorado por Gilbert Durand e pela escola mitocrítica, afirmando o retrocesso e a perda de importância dos imaginários perante o avanço do racionalismo, com Descartes e a ciência moderna. É esta a concepção que impõe um “antes” e um “depois” e precisa nutrir-se de eventos fundadores plasmados na história das nações e dos seus símbolos. Que 1789 é, historicamente, um momento marcante, não parece haver dúvidas. Mas como é possível defender o refluxo dos imaginários quando a ciência é, num primeiro momento – e, é preciso não esquecer: em todo o esplendor da sua materialidade e das suas práticas – o acesso ao infinitamente grande e ao infinitamente pequeno e, logo, do desdobramento do olhar que introduz a profusão das imagens, das “outras” realidades invisíveis, próximas ou distantes? Com lentes diligentemente polidas e uma teoria da luz e da visão, os sonhos, as sensações e as pulsões ganham novos mundos. Diversos regimes escópicos alimentam a imensa dilatação dos imaginários através da reprodução de imagens e das sempre renovadas fronteiras do desconhecido, à medida que o conhecimento progride e se difunde. Como defender o retrocesso dos imaginários quando a Arte, a Cosmologia e a História Natural os exaltam? Desde as doutrinas de Deus como luz, do paganismo à escolástica e à mitologia dos espelhos ensinada por Borges, da lanterna mágica à Sétima Arte, de Cagliostro a Mesmer e Freud, não encontramos senão motivos para duvidar das teses da escola mitocrítica. O símbolo não é, como pretendia Eliade, epifania – aparição do indizível no e pelo significante. Quem precisar do “sagrado” encontrá-lo-á nos sítios do costume, mas o que de melhor trouxe a escola mitocrítica, para além da renovada atenção a Bachelard e a Cassirer, não foi a filosofia da história para uma teoria do “sagrado” e para uma metafísica do símbolo mas, antes, o saudável princípio do cosmopolitismo epistemológico dado na expressão que postula: “todas as hermenêuticas devem ser consideradas simultaneamente necessárias e insuficientes”. É no pluralismo que vale sempre a pena investir.
[1] Didier Eribon, 1988, Claude Lévi-Strauss. De Perto e de Longe