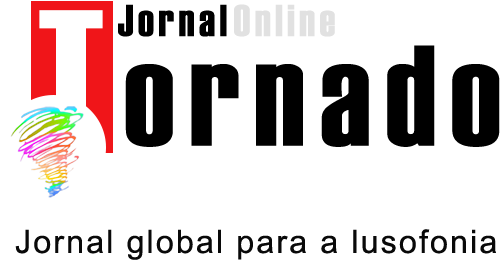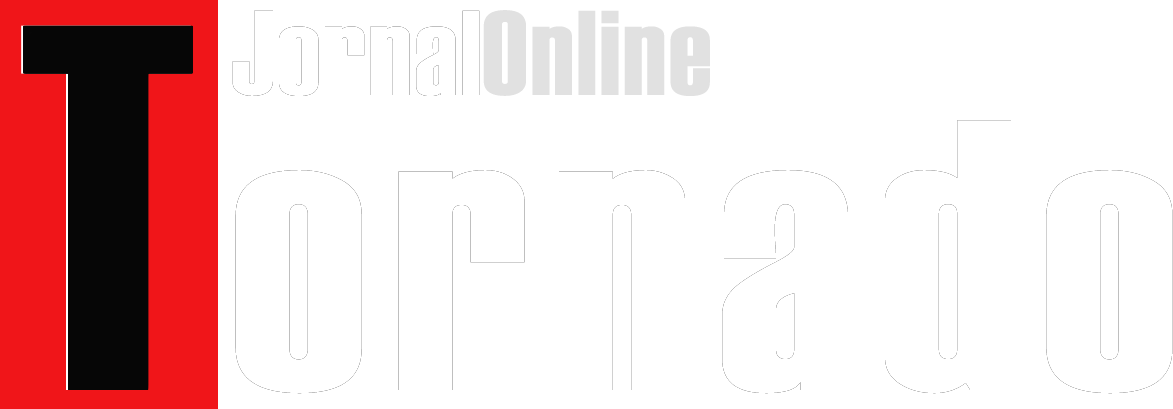Foi a semana passada, ao escrever uma mensagem electrónica na minha conta de gmail informando uma associação de que sou membro da minha morada actual, que vi aparecer no écran no sítio apropriado da frase que escrevia, sem eu nada fazer para isso, o meu endereço.
-
Do big tech ao big brother
Já me tinha habituado a ver aparecer no écran as mais variadas palavras adequadas ao que eu tinha em mente, cada vez com maior frequência e com maior acerto, para além das automáticas correcções linguísticas que progressivamente deixaram de confundir a língua que estou a usar, mas este feito pareceu-me qualitativamente diferente.
Como pude verificar noutra situação, mesmo aquilo que requer alguma intervenção humana – o numerar uma estrada municipal de que não constava o número nos mapas – o Google mostrou conseguir interagir com mais prontidão e eficácia do que os serviços municipais.
Para quem tenha idade e memória, o mundo Google em que vivemos é notável e permite-nos ter mapas e trajectos; saber o que se passa com lojas, com o tempo e com os transportes; o que fazer, como comprar; como escrever com menos pontapés na gramática; como tratar de cada vez mais coisas do dia a dia.
Tudo isto paga-se com publicidade, que é desviada dos meios que tradicionalmente dela viviam – como a comunicação social tradicional – e com o que se tem designado como perda de privacidade. Este desvio levou à falência do modelo tradicional de comunicação social que vivia da publicidade, matéria que deixo por ora de lado.
A perda de privacidade traduz-se na captação de dados tendo em vista o seu tratamento e utilização. Isso pode ser feito com exclusivos objectivos comerciais; por exemplo, se através do que revelo às empresas tecnológicas se conclui que gosto de viajar e não ligo a futebol, os anúncios que me aparecem no ecrã tenderão a ser relativos a viagens e não a artigos usados por futebolistas famosos. Esse conhecimento poderá ser vendido pela Google às empresas dos sectores para estas dirigirem as suas mensagens publicitárias, e é este tipo de coisas que tem prendido a atenção da generalidade dos observadores.
Até aqui, pessoalmente, só vejo vantagens, porque se tiver que ser submetido a mensagens publicitárias, prefiro que essas mensagens sejam relativas a temas que me interessem. Mesmo se eu não estiver a considerar visitar o país X, prefiro ver uma mensagem publicitária turística sobre esse país que ver um futebolista a aconselhar-me a comprar um par de ténis da marca Y.
Tão pouco me choca que se faça comércio com isso, até porque na verdade, e como se viu nos exemplos que dei, eu como cidadão, lucro com esta relação simbiótica.
Mais ainda, contrariamente ao conservantismo dominante, não penso que seja o avanço tecnológico que nos conduz à distopia do Big brother ou outra qualquer, porque essa distopia é criada pelo ser humano, usando as tecnologias ao seu dispor.
Para além disso, se num domínio restrito – por exemplo, o de um país – resolvermos proibir o uso das tecnologias mais avançadas, o único resultado que obteremos é ser marginalizados, atrasados, dependentes e, quando chegar o momento do choque com o exterior, momento que chega sempre mais tarde ou mais cedo, sermos simplesmente esmagados pela sociedade tecnologicamente mais evoluída.
O extraordinário avanço tecnológico que conhecemos permite o ‘big brother’ mas não o produz inevitavelmente.
-
De boas intenções…
A primeira nota de apreensão com o ‘big tech’ vem da sua tremenda concentração. Aqui, registe-se que nos EUA, apesar de toda a ‘polarização tóxica’, o Congresso organizou a 29 de julho do ano passado uma audição em que ambos os lados da câmara convergiram em expressar a sua grande preocupação com o peso e poder das empresas tecnológicas.
Como notava o jornalista Kyle Daly antecipando essa audição, em artigo datado de 27 de julho de 2020, quatro das cinco maiores empresas americanas são as empresas tecnológicas Alphabet (Google), Amazon, Apple e Facebook, concluindo o seu artigo dizendo: ‘As quatro grandes empresas moldam a vida das pessoas — que bens podem obter, a que meios de comunicação estão expostos, como se conectam com amigos e familiares, como entendem o mundo. É uma quantidade espantosa de poder para confiar a um punhado de empresas dirigidas por um punhado de homens.’ (tradução electrónica).
Em contraste, em Bruxelas, como costumamos dizer ‘No pasa nada!’ Em artigo do final do ano passado, a 14 de dezembro, o New York Times dizia-nos que a Google tinha organizado a maior operação de lobying já alguma vez vista em Bruxelas (e eu não conheço cidade com mais lobistas do que Bruxelas), mas a imprensa europeia, que normalmente faz eco sobre tudo o que sobre si se publica além-Atlântico, manteve aqui uma grande discrição.
Em artigo aparentemente não relacionado, um jornal de circulação euro-bruxelense, o ‘EU Observer’ dirá a 1 de março que as cinco grandes empresas tecnológicas (a Microsoft junta-se às quatro acima citadas) terão gasto 19 milhões de Euros em 2020 em lobby em Bruxelas, quantia relativamente modesta e que, provavelmente, não reflecte a realidade.
Aqui na Europa, em vez de se olhar para este enorme poder de mercado, olha-se antes para o teor da comunicação cuja difusão foi ampliada por estes meios tecnológicos, começando primeiro pelo alarme com a promoção do ódio, depois a critérios mais apertados de correcção política, e alargando-se sucessivamente às falhas à verdade, reais ou presumidas.
Estamos aqui perante uma grande falácia, porque é evidente que não foi a tecnologia que inventou a calúnia, a maledicência, a intriga, a mentira, a desinformação, a falta de educação ou de civismo; a tecnologia apenas ampliou o impacto de tudo isso. Ao atribuir à tecnologia a responsabilidade que não é sua e ao confundir a divulgação do problema com a existência do problema, estamos a errar com as melhores das intenções, mas com as piores das consequências.
As empresas tecnológicas foram assim responsabilizadas pelos conteúdos que transitam pelas suas plataformas, não se entendendo, ou não se querendo entender, que ao lhes atribuir este vasto poder de controlo e de censura, os poderes públicos estavam a reforçar de forma considerável o vastíssimo poder que essas empresas já tinham pela dimensão a que tinham chegado. Por outras palavras, em nome de um falso problema encontrou-se uma falsa solução que agrava consideravelmente o verdadeiro problema.
-
Desinformação em nome da luta contra a desinformação
As empresas tecnológicas agarraram a oportunidade com ambas as mãos. A partir de 2015, e especialmente a partir de 2017, a Google anunciou centenas de milhares de dólares de subvenções a ditas ‘organizações não governamentais’ e a meios tradicionais de comunicação social para policiar excessos de linguagem e corrigir mentiras ou supostas mentiras (e assim começaram os prolíferos polígrafos).
Rapidamente se constituem redes de zelosos policiadores de expressão – funcionários das empresas ou associados em supostas organizações não governamentais – que vão patrulhar o ciberespaço, expondo ou simplesmente impedindo a divulgação de um sem número de mensagens consideradas de mau gosto ou pouco verdadeiras.
Em França, num caso que o centro de reflexão que dirijo estudou, a Google, tendo aqui o Twitter como parceiro, financia por altura das eleições presidenciais de 2017 uma rede de 34 organismos de comunicação social instalados em França (começando pela principal agência noticiosa, AFP, e toda a imprensa dita de referência) e uma série de organizações de voluntários que vão expor uma série de ataques políticos que contêm menções não verdadeiras ou que alegadamente são fomentadas a partir da Rússia.
A campanha é favorável ao candidato vitorioso, e claro, tudo feito com a melhor das intenções. Acontece que um dos grupos formados para essa ocasião, que vai assumir meses mais tarde o nome de ‘EU DisinfoLab’ (é um entre inúmeros que são anunciados em 2017/2018 com ligações às empresas tecnológicas) aproveita o financiamento e a embalagem para ir mais longe.
A 18 de julho de 2018 o Governo de Macron enfrenta a sua primeira grande crise política, no chamado escândalo Benalla, escândalo de grande dimensão que continua a desenrolar-se ainda hoje, mas que começou pela divulgação na imprensa da usurpação por duas das pessoas mais próximas do Presidente Macron de distintivos policiais para agredir manifestantes.
A ‘EU DisinfoLab’, através do mesmo sistema de ‘tweets’ com que interveio na campanha presidencial, vai inventar a ideia de que a dimensão do escândalo está a ser empolada por uma conspiração manobrada a partir do Kremlin.
Dada a grande cobertura das empresas tecnológicas e da rede de comunicação social por estas financiada de que desfrutou o ‘EU DisinfoLab’, esta organização conseguiu convencer a imprensa (a agência AFP em destaque), o Governo, e os partidos que o apoiam de que se estava perante uma conspiração do Kremlin, tendo todos eles reproduzido a acusação e anunciado uma comissão de inquérito.
A invenção da conspiração russa é totalmente desmontada por um estudo independente publicado a 7 de agosto, sendo que o ‘EU DisinfoLab’ no dia seguinte, reconhece que se trata de uma mentira, mas despudoradamente negando responsabilidades, e acusando os ‘políticos’ de terem sido os responsáveis pela fabricação.
A mentira foi amplamente denunciada no ciberespaço e em alguma imprensa independente (que não fez parte dos grupo dos 34) como por exemplo a Marianne, mas o grupo continuou e continua as suas actividades.
No sentido em que se tratou de uma mentira que conseguiu convencer tanto a comunicação social como o Governo, a ‘conspiração russa’ foi uma manobra de desinformação que atingiu os seus objectivos, ridicularizou a França e permitiu à imprensa oficial do Kremlin desdenhar de todas as acusações relativas a campanhas de desinformação.
Pior ainda, esta organização que defraudou a imprensa, o governo e a opinião pública do seu país é lautamente financiada pelo erário europeu, que lhe continua a dar crédito, continuando a desenvolver a sua actividade de desinformação com notável sucesso.
E assim, em nome da luta contra a desinformação, se fez desinformação, e pior ainda, se regrediu brutalmente na liberdade de expressão, tema que abordarei em próxima ocasião.