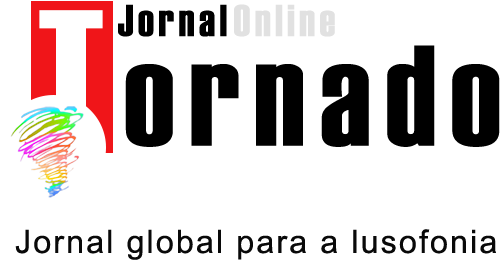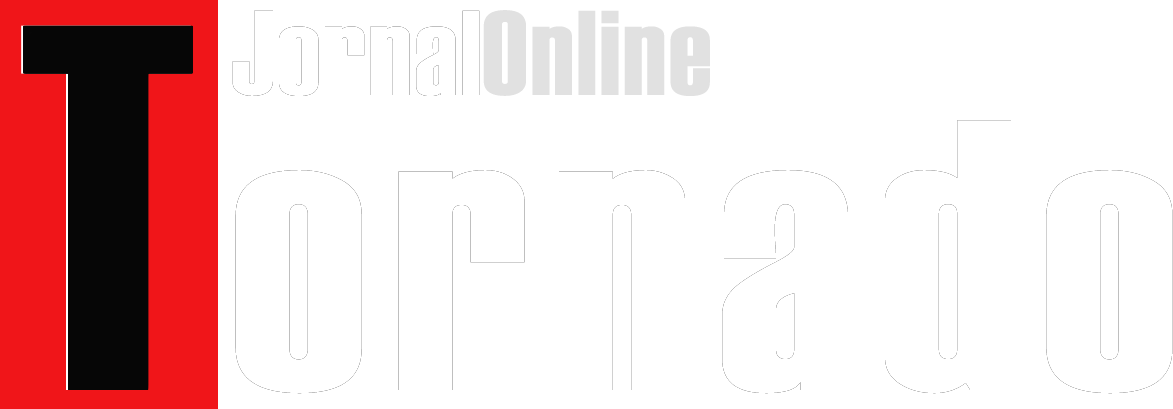Será que perante a guerra vamos finalmente ver alguém pensar? Ou será que em vez de pensamento estratégico vamos ter a parasitagem do costume oferecer soluções caras e incapazes? A Chechénia e a Síria foram abusivamente pintadas como viveiros unilaterais da Jihad; a Geórgia e a Ucrânia, foram apagadas em manipulações históricas, e o brusco despertar de hoje não quebrou com a cegueira em vários comprimentos de onda. O que precisamos?
-
O exemplo de Zelensky
A declaração russa de aceitação da presidência de Zelensky à frente da Ucrânia (e portanto de desistência de nomeação de um governo fantoche) terá naturalmente de ser tomada com as mesmas precauções que todas as anteriores. Quem não estará lembrado das repetidas promessas de Putin de que não iria invadir a Ucrânia durante o mês que procedeu a invasão?
Putin, em vez de dividir a vertente europeia da OTAN deu-lhe nova solidez; em vez de dividir os ucranianos pela língua, uniu-os atrás do seu presidente; em vez de mostrar ao mundo o poder das suas forças armadas, mostrou a sua incompetência e incapacidade logística, ao ponto de se ver obrigado a trazer a palco o argumento último, que é a sua capacidade nuclear, capaz de pulverizar, várias vezes, a vida no nosso mundo.
Duas semanas depois do início da invasão, as forças russas nem sequer conseguiram tomar a capital – no entanto bem próximo de uma das fronteiras por onde entrou o corpo expedicionário – o que dá bem a dimensão do seu falhanço.
Para um líder que olha com indiferença a vida humana, os milhares de mortos entre as forças que enviou pouco o comovem; alguém que mantém dez metros de distância com os seus interlocutores (incluindo subordinados) é difícil de eliminar; num Estado que pune com penas de quinze anos de prisão quem se exprimir contra a sua guerra imperial, é pouco provável a mudança de ideias ou intenções.
Ninguém no seu juízo vai por isso acreditar em qualquer promessa feita pelo regime imperial russo, e por isso, mesmo no melhor dos cenários, que é o início da retirada das forças de ocupação da Ucrânia, continuaremos provavelmente em tempo de guerra.
E conviria também ter em conta que só por incapacidade dicromática se pode ver Putin como uma espécie de extraterrestre e não reparar quantos émulos ele tem por esse mundo fora, a começar pelos países guiados pela Jihad.
Convém também lembrar que só depois de começada a invasão é que a Europa começou o envio europeu de equipamento de defesa para a Ucrânia e que, só pelo heroísmo e tenacidade dos ucranianos, e em primeiro lugar do seu Presidente, é que ela foi travada.
Uma política de defesa consequente assenta naturalmente na vontade e capacidade de resistência de um povo e dos seus líderes e na competência e apetrechamento das suas forças armadas. Sem naturalmente pôr em causa a necessidade de um corpo profissional, o treino generalizado da população para operações básicas de defesa ficou também aqui demonstrado, mas a situação com que todos estamos confrontados mostra que a defesa passa também por questões logísticas de primeira importância, como sejam a alimentação e a energia.
-
Políticas de defesa e interesses particulares
O primeiro problema com que se confrontam as políticas de defesa é o abuso de que delas fazem os interesses particulares. Em maior ou menor grau, todos estamos conscientes desse abuso por parte da indústria de armamento, que se torna por vezes o motor da guerra e da insegurança escondendo a irrestrita intenção de ganhar dinheiro por trás de falsos argumentos de defesa.
Talvez menos conscientes estaremos de políticas proteccionistas sectoriais com o mesmo argumento de defesa, nomeadamente no domínio da alimentação e energia, argumentos que, também eles, se prendem muitas vezes apenas com o objectivo de ganhar dinheiro sem qualquer preocupação com a defesa.
A título de exemplo, esta mesma Ucrânia que está agora a ser devastada pela invasão russa é conhecida pela grande extensão de terra fértil e por ter grande produtividade e produção agrícola. Isso não impediu, contudo, que a Ucrânia fosse dizimada pela fome durante o genocídio estalinista, o Holodomor.
Não faltou quem sustentasse que, perante o cataclismo no abastecimento de combustíveis fósseis que nos ameaça, a melhor solução de defesa no domínio energético seria a indústria nuclear.
Na realidade, o que a guerra está a demonstrar é precisamente o contrário, com a possibilidade de virmos a sofrer um Chernobyl bis eventualmente mais violento que o primeiro.
A antiga central de Chernobyl – que como todos sabemos não produz electricidade desde a explosão de um dos seus reactores em 1986 – foi o primeiro alvo do exército invasor e está desde a data de ocupação sem corrente eléctrica e, portanto, sem o arrefecimento necessário para evitar que volte a entrar em reacção incontrolada. Já depois de impedir a necessária refrigeração do material nuclear em Chernobyl, o exército russo atacou com mísseis a maior central nuclear da Europa, confirmando para os menos crentes que o primeiro ataque não resultou de nenhuma distração.
A mensagem parece-me ter sido clara: Putin não recuará no uso de armas nucleares, sendo que a de uso mais fácil é fazer explodir centrais nucleares existentes. As centrais nucleares são assim uma enorme fragilidade para um sistema de defesa, porque, se podem tornar em bombas nucleares de detonação sem assinatura.
Precisamos também de ter em conta que as políticas de defesa não são as únicas a ser parasitadas por interesses particulares. O mesmo acontece um pouco por todo o lado, a começar pelas políticas ambientais e humanitárias que se encontram hoje minadas por interesses comerciais e geopolíticos que as manipulam com agendas que nada têm de humanitário ou ambiental.
-
Equacionar prioridades
Política de defesa não é a mesma coisa que política de agressão, embora ambas possam recorrer a material bélico semelhante, e por vezes se possam confundir, como é o caso da estratégia de destruição mútua assegurada em conflitos nucleares. Por outro lado, em situações limite, como a de concretização de ataque nuclear, a política de defesa traduz-se necessariamente em abrigos antinucleares (como os que existem por todo o lado na Suíça), ou quando se enfrentam tanques a disparar sobre prédios (como se vê hoje na Ucrânia), a única opção para os civis sem capacidade de combate é a de fugir.
É apenas quando o conflito se traduz apenas em bloqueio de comunicação externa ou, também em destruição de infraestruturas chave, incluindo comunicação interna, que faz sentido pensar em política alimentar ou energética de defesa, e aqui, o que é necessário é conseguir subsistir por períodos relativamente prolongados de tempo, na ausência de serviços, infraestruturas e bens que damos normalmente por garantidos.
Pegando no mais conhecido dos exemplos para tornar a mensagem mais clara: Petrogrado conseguiu resistir durante anos ao cerco militar imposto por Hitler, mas com um número astronómico de vítimas pela fome e frio. Com as mesmas condicionantes militares, acaso existissem soluções locais para a alimentação e energia, o resultado teria sido totalmente diferente. É um cenário que temos de recordar quando vemos Putin seguir a mesma lógica de Hitler no cerco a Kiyv.
E tanto na alimentação como na energia, isso quer dizer que os recursos devem ser facilmente acessíveis, em distância e em custo, e de pequena ou nula dependência de factores externos. Na energia, isso quer dizer energias renováveis – solares, eólicas e ou geotérmicas – instaladas nos locais de residência e ou trabalho.
É extraordinário como toda a histeria com as mudanças climáticas é invariavelmente reconduzida a soluções anti-ambientais (como as nucleares), absurdas, como a recuperação de carbono, ou viradas para a caça ao subsídio e à alimentação de mamutes energéticos, como o são os colossais parques eólicos e solares ou de hidrogénio (como se esta fosse uma energia alternativa).
Por que razão não se estudam, divulgam e se impõem soluções adaptadas à escala da moradia, do prédio ou do escritório de energias renováveis. Por que razão a energia geotérmica está tão desenvolvida na Suécia – que não tem condições geotérmicas particulares para ela – e não entre nós (ou na esmagadora maioria da Europa)?
Mesmo a Suécia, onde a geotermia está generalizada nos sistemas de aquecimento ambiente ou de fornecimento de água quente, a sua massificação encontra obstáculos, nomeadamente a concorrência que é feita pela queima indiscriminada de resíduos, prática que na Suécia é enganadoramente denominada de ‘reciclagem’.
E a adaptação aos edifícios e materiais de construção de painéis fotovoltaicos e novas formas de eólica? A investigação científica pura e aplicada continua em plena explosão nestes domínios, apesar do pequeno ou nenhum apoio estatal que lhe é prestado e da forma surpreendente como o assunto é ignorado pela construção civil e pelas autoridades responsáveis pelo seu enquadramento.
Na alimentação, há décadas que é explorado entre nós o potencial das microalgas para converter dióxido de carbono e Sol em fontes alimentares. A indústria tem-se mantido em pequenos nichos de mercado (especialmente proteínas apenas usadas como aditivo alimentar ou recicladas na piscicultura ou outra alimentação animal), e pouco ou nada se avançou na superação dos obstáculos que se colocam à utilização dessas matérias na alimentação humana.
A vantagem das microalgas é a da sua eficiência na transformação de Sol e dióxido de carbono em matéria alimentar, várias vezes superior a qualquer prática agrícola, com a vantagem adicional de poder recorrer a água do mar ou salobra e fazer-se na base de resíduos.
As dificuldades são as relativas a qualquer processo industrial, acrescidas por riscos de contaminação consideravelmente superiores aos das actividades agrícolas e enfrentando ainda barreiras importantes na digestibilidade e sabor, o que lhes dá um baixo potencial de mercado na alimentação humana. Por isso mesmo, sem uma óptica de defesa como a que a que foi aqui invocada, é pouco provável que se avance neste domínio só na base do incentivo de mercado.
Na defesa, como no ambiente e como em muitas outras matérias, o essencial é ser capaz de ver sem antolhos (outra forma de referir a dicromacia) para ter em frente todo o quadro da realidade.
Não há em Portugal região com tanto potencial nestes domínios como os Açores, onde acompanhei, desde há décadas, o despontar e o abortar ou estiolar de processos ligados tanto a energias renováveis como à produção de espirulina (que continua a ser a proteína mais valorizada no cultivo de microalgas), falhanço que decorreu do atrofiar da criatividade e autonomia pela lógica nefasta dos ‘custos de insularidade’.
Sendo isto verdade, não deixa de ser também surpreendente que não se conheça uma única iniciativa da defesa nacional nos Açores que teste soluções destas para cenários que são cada vez mais realistas, para não falar na sua extensão ao resto do país.
Será que perante a guerra vamos finalmente ver alguém pensar? Ou será que em vez de pensamento estratégico vamos ter a parasitagem do costume oferecer soluções caras e incapazes? A Chechénia e a Síria foram abusivamente pintadas como viveiros unilaterais da Jihad; a Geórgia e a Ucrânia, foram apagadas em manipulações históricas, e o brusco despertar de hoje não quebrou com a cegueira em vários comprimentos de onda. O que precisamos?